Sivuca e o fogo do Nordeste contra a invasão
- NOVACULTURA.info

- 13 de out. de 2023
- 7 min de leitura
Atualizado: 16 de out. de 2023

Severino Dias de Oliveira, ou Sivuca, é daqueles artistas que fazem cair por terra os coçados rótulos de “erudito” e “popular”. Sua capacidade de unir o elaborado ao intuitivo desmancha qualquer pretensão de enquadrá-lo “aqui” ou “ali”, em matéria de gênero musical. Arrisco-me a dizer que a sua música é universal; no entanto, quando chega junho, sua sanfona consegue aquecer o regionalista coração de qualquer correligionário do xaxado, baião, quadrilha ou xote. O multi-instrumentista (dava para sanfoneiro, violonista, pianista, percussionista e até guitarrista), arranjador e compositor completaria 90 anos em 2020. Deixou-nos em 2006, vitimado por um câncer que combatia desde 1968. Mas longe de querer aquilatar sua trajetória, o que pretendemos aqui é falar um pouco sobre o seu retorno a um Brasil não tão “aberto”, em 1979.
Em agosto daquele ano, João Baptista Figueiredo assinava a Lei da Anistia: a norma que pavimentaria os caminhos da “abertura política”. Sabemos que essa “abertura”, em verdade, significou bem mais uma “cessão” por parte do governo militar, que perdia eleições e via a oposição crescer, afora a gigantesca pressão econômica exterior, advinda de países que queriam fazer negócios com um Brasil “mais democrático”. Ademais sabemos que a tal Lei da Anistia – apesar de ter de fato concedido o perdão a presos políticos, pessoas banidas e exiladas que antes não podiam voltar aos trópicos –, conferiu, de “brinde”, a autoanistia aos militares fascistas, salvaguardando toda a estrutura da caserna até os dias de hoje, haja vista a massiva ocupação verde-oliva do Planalto brasileiro.
No entanto, no campo cultural, a volta de alguns indivíduos ao Brasil serviu para “requentar” nosso vastíssimo repertório artístico, além de reavivar o debate cultural, brutalmente interrompido desde o tirânico Ato Institucional número 5. Mais que isso: em se tratando de música popular, neste prelúdio dos anos 1980, o Brasil era crivado pelos mais espúrios interesses das multinacionais do som, que impunham uma verdadeira invasão alienígena de “enlatados” musicais, sob o signo da discoteca – a coqueluche daquele momento. E a volta de alguns de nossos portentosos músicos combateu, ou, pelo menos, contrabalanceou, a “avalanche” estrangeira que se precipitava em direção às nossas vitrolas, rádios e televisões.
Entre os calados à força que agora podiam retornar, destaca-se o nome de Sivuca. Vale dizer que o artista escolhera refugiar-se na Europa e nos EUA em razão de não encontrar o merecido espaço entre o mercado brasileiro; mas podemos dizer que sua evasão retrata, da mesma maneira, uma censura, só que por parte das gravadoras, que se recusavam a despender investimentos à música instrumental. Mesmo assim, quando do enfraquecimento do reacionário regime militar, o paraibano decidira voltar ao Brasil.
Àquela altura, em 1979, Sivuca já havia feito de “tudo”: gravado choro, Bach, samba, baião, frevo, jazz, música angolana; arranjado para orquestras e trilhas sonoras de filmes; excursionado pelo mundo todo e morado na França e nos EUA. É cômico para não dizer trágico: ao passo que o Imperialismo nos impunha os seus “enlatados” musicais, Sivuca (e tantos outros, como Airto Moreira, Flora Purim, Djalma Corrêa, Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti...) tocava temas do Sertão Nordestino nas principais salas de concerto dos Estados Unidos da América e da Europa.
A Ditadura das gravadoras
Este assunto – o desprestígio do músico brasileiro, sobretudo do instrumentista, em própria terra nativa – foi um dos que Sivuca se ocupou. O paraibano não se conformava com o complexo das gravadoras multinacionais aqui instalado e a sua consequente submissão às músicas importadas. No derradeiro ano da década de 1970, numa entrevista concedida a Assis Ângelo, no “Folhetim” da Folha de São Paulo (em 01/04/1979), nosso sanfoneiro dizia:
“Nós estamos tendo uma dificuldade horrível por causa da invasão das multinacionais na nossa música, na nossa terra. Mas, felizmente, nós ainda temos, por exemplo, um Chico Buarque de Hollanda, que é um baluarte; nós temos um Zé Ramalho, um valor nordestino que começa a fazer sucesso no Sul do país. Um dos nossos problemas deve-se à concentração dos meios de comunicação no Sul. Isto significa dizer que o Nordeste, hoje, não conta com nada para fazer alguma coisa no cenário musical. Temos valores fabulosos como Canhoto da Paraíba, quer um valor maior que esse? Mas, o que é que o Canhoto pode fazer, a não ser tocar o chorinho dele? [...] Isso aí [a invasão das multinacionais no Brasil] foi um projeto feito propositalmente para minar a nossa cultura, e que está minando. A juventude, hoje, está completamente alienada. [...] O menino, hoje, não sabe mais nada! E nem pode saber. Não pode porque vai a uma discotheque e passa lá a noite inteira ouvindo esse som ‘incrível’. Ouvindo dois mil watts. Sabe lá o que é isso! [...] Isso é uma imposição vinda das multinacionais”.
O problema fica mais aberrante quando evidenciamos que, àquela altura, a música brasileira tocava e vendia mais do que as músicas estrangeiras. Não é que a música brasileira não tinha mercado, é que as gravadoras aqui dominantes fechavam o mercado brasileiro para a música brasileira. À primeira vista um contrassenso. Porém tudo faz sentido se analisarmos este caso dentro do amplo quadro do desenvolvimento do Imperialismo nos âmbitos cultural e informativo.
Vale dizer que a estagnação econômica daquele período, por obra das crises do petróleo (lembremos: o petróleo é a matéria prima do LP), fez com que o mercado de música passasse por uma concentração sem precedentes. De acordo com Márcia Tosta Dias, em seu “Os Donos da Voz: Indústria fonográfica brasileira e a mundialização da cultura” (2000), em 1979, tínhamos, neste campo, a Som Livre, CBS, Polygram, RCA, WEA, Copacabana, Continental, RGE-Fermata, EMI-Odeon, Top Tape e a Tapecar. Em 1983, com a crise patente, enquanto a Top Tape era absorvida pela RCA, a RGE pela Som Livre e a Tapecar pela Continental, vinte selos fechavam as portas. A “abertura”, como vamos vendo, também não se verificou no campo da indústria fonográfica, haja vista o seu monopólio de interesses que traduzir-se-ia na limitação de investimentos “arriscados” (lê-se: conservadorismo total em seus novos lançamentos). O “enlatado” passaria a ser o prato do dia.
Outro valoroso defensor da cultura nativa, o criador do Bar Jogral – para muitos a primeira tribuna consequente a contestar a dominação da música estrangeira – foi Marcus Pereira. O publicitário e editor de discos de música brasileira, tentava explicar, para o mesmo “Folhetim” (entrevista concedida a Malu Maranhão, publicada em 28/10/1979), porque a supracitada “avalanche” estrangeira ocorria:
“[...] Eu tenho dito sempre que o papel predatório que as empresas multinacionais de discos desempenham no quadro geral da música brasileira está no fechamento dos canais de venda da música para o Brasil. [...] A divulgação comprada é possível devido ao fato de estas matrizes [de música estrangeira] entrarem no Brasil a custo zero, então não há despesas de produção. E isto é aplicado na divulgação que muitas vezes significa compra de disc-jockeys, isto é público. [...] Se a música brasileira de qualidade não vende mais é porque as grandes empresas impedem, através do monopólio que exercem, através de um dumping financeiro, dando condições às vezes excepcionalmente vantajosas para o comerciante, coisa que as pequenas gravadoras e os produtores independentes não têm meios de fazer [...]”.
As angústias de Sivuca encontravam par com a realidade. Havia, é claro, exceções à regra: a Phonogram-Polygram, por exemplo, de 1978 a 1981, editou uma série de discos sob o título “MPBC” (Música Popular Brasileira Contemporânea), uma proposta de divulgar a rica música instrumental brasileira; as produções independentes (e/ou alternativas), capitaneadas por Antônio Adolfo, grupo Boca Livre e a dupla Luci e Lucinha, que se propunham a fabricar seus próprios discos em esquemas que passassem ao largo das grandes gravadoras; sem contar os circuitos alternativos promovidos por músicos universitários, sobretudo paulistas, à exemplo de Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção e o conjunto Premeditando O Breque.
A despeito do conturbado cenário, os respeitosos à “linha” popular da música brasileira não desanimaram.
O fogo do Nordeste contra a invasão
De volta ao Brasil, Sivuca dera tudo de si e de seu trabalho para combater a invasão promovida pelas multinacionais.
De imediato começara a participar dos circuitos alternativos, engrossando os movimentos dos instrumentistas brasileiros pelo seu lugar ao sol. Mal pisou em solo natal e já se apresentou com a violonista Rosinha de Valença, no Rio de Janeiro, exaltando o Nordeste a partir de músicas de Luís Gonzaga e Humberto Teixeira.
Além disso, “pediu passagem” para uma necessária trupe que aparecia. Seu prestígio e composições certamente afiançaram as carreiras da conterrânea Elba Ramalho e do pernambucano Dominguinhos. A influência de Severino também ajudara no desponte e reconhecimento de nordestinos que, pós-1979, enfim estouravam no Sul, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Belchior, Amelinha, Ednardo, Vital Farias e tantos outros.
Em 1979, fazia a divulgação de seu disco homônimo, que trazia, entre outras composições, a “Nosso Encontro”, em parceria com o alagoano (e também albino) Hermeto Paschoal. No ano seguinte, lançava o disco “Cabelo de Milho”, emprestando composições para o jovem cearense Fagner. [1]
Afora a sua parceria, conjugal e musical, com a também paraibana Glória Gadelha. Safra boa a do casal: compuseram um sem-número de canções, com destaque especial para “Feira de Mangaio”, cuja letra fora escrita por Glorinha num guardanapo de um bar de Nova Iorque; uma música que expira o Nordeste brasileiro:
“Fumo de rolo arreio de cangalha/Eu tenho pra vender, quem quer comprar/Bolo de milho broa e cocada/Eu tenho pra vender, quem quer comprar/Pé de moleque, alecrim, canela/Moleque sai daqui me deixa trabalhar/.../Tinha uma vendinha no canto da rua/Onde o mangaieiro ia se animar/Tomar uma bicada com lambu assado/E olhar pra Maria do Joá/.../Cabresto de cavalo e rabichola/Eu tenho pra vender, quem quer comprar/Farinha, rapadura, e graviola/Eu tenho pra vender, quem quer comprar/Pavio de candeeiro, panela de barro/Menino vou me embora tenho que voltar/Xaxar o meu roçado que nem boi de carro/Alpargata de arrasto não quer me levar/...”
O papel de Sivuca, tanto neste momento político específico quanto no quadro geral de desenvolvimento de nossa música popular, é elementar. Ao lado de Gonzagão e Hermeto Paschoal, o paraibano dimensionara a música do Nordeste, confrontando-a com o jazz fusion (vale conferir o álbum Natural Feelings, em parceria com Airto Moreira) e a música clássica, numa síntese magnificente.
Sivuca não se iludia com a “abertura”. Dizia ser coisa “de fora” e que devíamos “prestar atenção”. Queria eleições diretas, mas não achava isso suficiente. Quando perguntado, na mesma entrevista supracitada, sobre qual regime acreditava como correto, respondera sem titubear:
“O [regime] socialista [...]. Porém, um regime socialista disciplinado e adaptado ao nosso sistema, ao nosso povo, compreende? Nós precisamos ter infraestrutura para fazer face a qualquer regime”.
Ainda na mesma entrevista, quando o repórter Assis Ângelo solta um desanimador comentário sobre a realidade de nossa música, indicando que ela pode vir a acabar, o grande Sivuca remata:
“Mas não acaba não, porque nós temos raízes. E enquanto houver, pelo menos, 20 justos, a nossa música sobreviverá. E nós estamos aqui para isso mesmo. Eu e alguns teimosos que existem no Brasil [...]”.
Embora se refira ao campo musical, a frase também indica a tarefa do campo democrático e popular brasileiro.
Podem nos incluir no coro dos teimosos.
REFERÊNCIAS
[1] “Sivuca” – Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em: http://dicionariompb.com.br/sivuca.







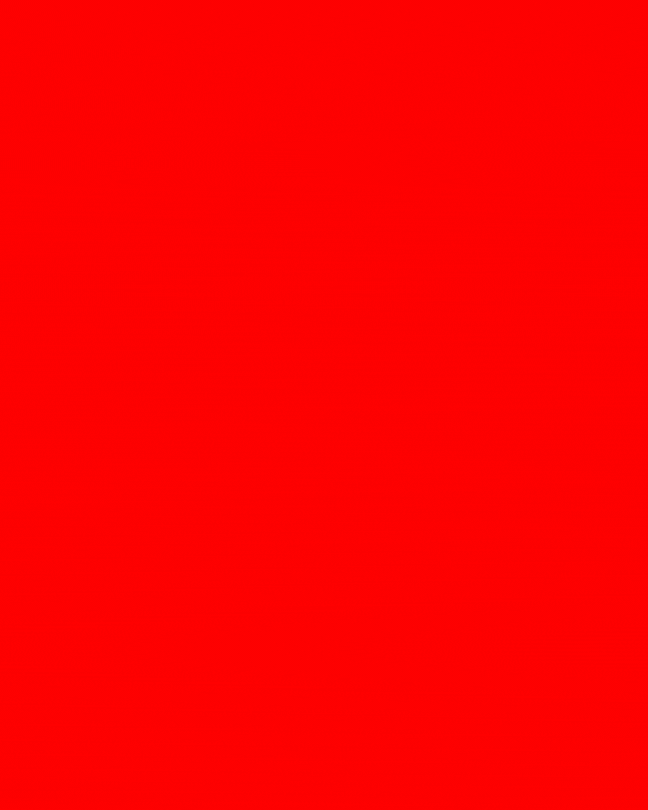












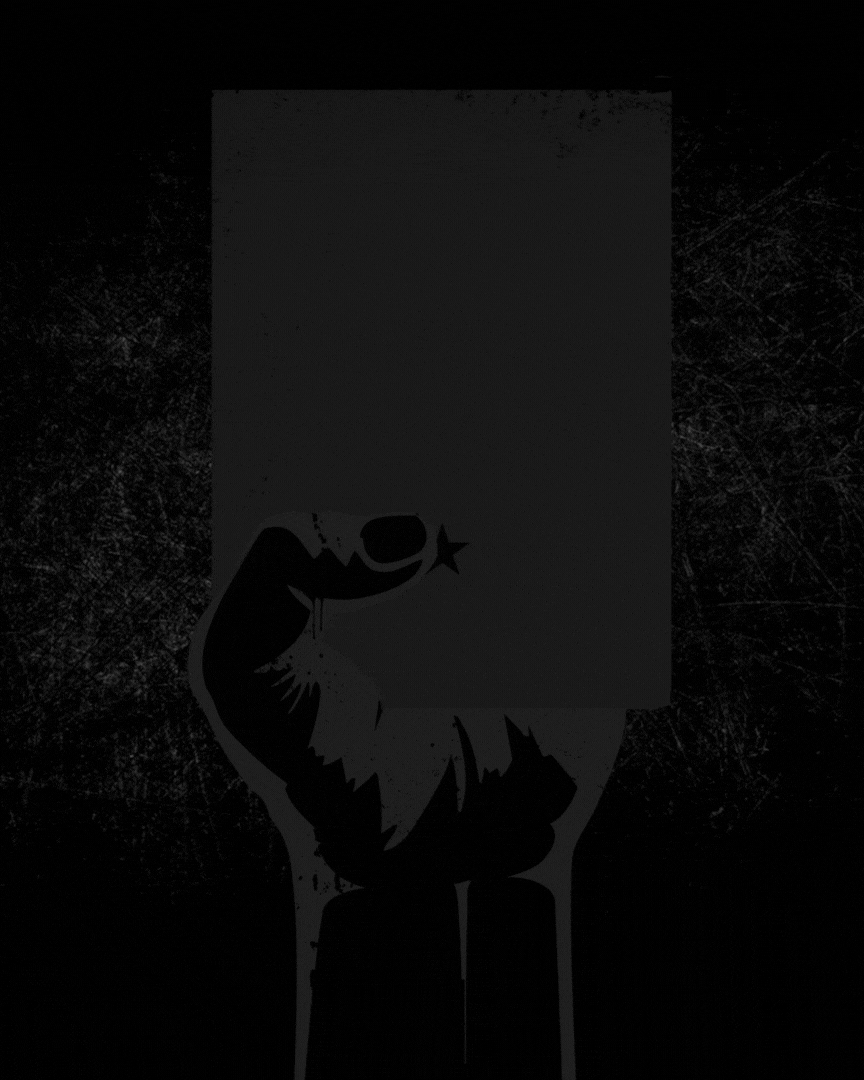
.png)








































































































































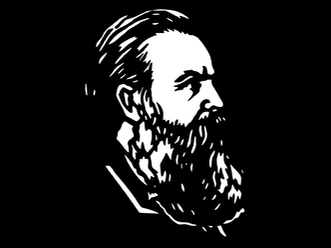



















Comentários