"Egito: Guerra suja no Sinai"
- NOVACULTURA.info

- 2 de out. de 2025
- 6 min de leitura

Desde que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi pôs em marcha a Operação Integral Sinai 2018, para o que destacou importantes contingentes das forças armadas com o fim de erradicar o terrorismo, a península se converteu em um território vedado para o jornalismo.
Apesar disso, desde o início têm existido fundadas suspeitas de que os militares estavam cometendo crimes de lesa-humanidade não apenas contra os mujahideens, mas também contra a população civil, principalmente os beduínos, que historicamente foram marginalizados, vinculados a atividades criminosas, sequestros extorsivos, roubos e contrabando.
Aplicando o “manual do bom repressor”, como já se viu tantas vezes, desde a América Latina até o Sudeste Asiático, onde todos são terroristas até que provem o contrário — se as arbitrariedades das tropas regulares lhes dão tempo suficiente.
Particularmente no norte do Sinai, o Exército, a Marinha, as Polícias e a Gendarmaria se lançaram à caça de mujahideens do que antes foi o Ansar Beit al-Maqdis (Partidários da Casa Santa), tributários da al-Qaeda, e que mais tarde passou a se chamar Wilāyat Sinai (Província do Sinai), depois de haver realizado em 2014 seu baya’t (juramento de lealdade) ao Daesh.
Mais além das denominações, desde 2012, o terrorismo fundamentalista tem sido responsável por numerosos ataques. Os mujahideens não se limitaram a operações menores dentro da península, como ataques a postos de controle policial, emboscadas a comboios militares, tomadas esporádicas de aldeias com os consequentes saques. Em geral, foram objetivos que não lhes exigiam demasiada complexidade.
Ao mesmo tempo, seus ataques também se replicaram, com as mesmas estratégias, fora do Sinai, tendo concretizado golpes importantes no coração do Cairo contra contingentes turísticos, policiais e funcionários estatais.
As ações da Wilāyat Sinai alcançaram outras localidades perto da fronteira com a Líbia e a centenas de quilômetros da capital, tendo como alvo, entre outros, a minoria copta, em diversas operações entre 2016 e 2018. Igrejas e ônibus de peregrinos em plena estrada foram atacados em várias oportunidades.
Embora sua operação mais importante, pelo número de mortes que produziu nos céus do Sinai, tenha sido a derrubada do voo 9268 da companhia aérea russa Kogalymavia, em que morreram os 224 ocupantes em novembro de 2015.
Desde a ocupação da península pelas Forças Armadas egípcias em 2018, e mesmo desde vários anos antes (2013), existem fortes suspeitas de que os militares teriam cometido uma infinidade de crimes de lesa-humanidade, não apenas contra terroristas, mas contra a população civil, como sempre acontece nesses casos em que se acusa de conivência. Desde então, no Sinai, têm ocorrido centenas de milhares de deslocamentos forçados. O governo nega, embora haja evidências de que nos primeiros meses da operação ao menos cento e cinquenta mil residentes locais indígenas foram obrigados a abandonar suas aldeias para serem internados em campos controlados pelas forças de segurança. Isso foi negado taxativamente pelas autoridades.
O terrorismo wahhabita disparou a partir de 2013, como consequência da derrubada do presidente Mohamed Morsi e da perseguição iniciada contra a Irmandade Muçulmana (al-Ikhwân al-Muslimūn), a organização que deu contexto teórico e, em muitos casos, apoio concreto a todas as khatibas do mundo islâmico, chegando até nossos dias e influenciando o Talibã, a al-Qaeda, o Daesh e todos os grupos tributários de uma e outra organização. Desde suas origens, participaram de ações terroristas, como a tentativa de magnicídio contra o presidente Gamal Abdel Nasser em 1954 e suas implicações secundárias no assassinato de Anwar el-Sadat em 1981. É importante lembrar que o sucessor de Osama bin Laden na al-Qaeda, o egípcio Ayman al-Zawahri, morto em 2022, formou-se ideologicamente junto aos Ikhwân.
A Irmandade foi fundada em 1928 por Hasan al-Bannā e, ainda que tenha alcançado seu maior desenvolvimento no Egito, instalou-se em mais de 20 nações do islã, sempre gerando controvérsias com os governos locais que se negam a aplicar a sharia (lei islâmica), acusando-os de takfirismo (apostasia).
Isso só pôde ser alcançado com o governo do presidente Morsi, no qual, à exceção da política econômica absolutamente neoliberal, conseguiu infiltrar seu governo no plano social e político. O que muito influiu em sua queda foi a repressão sangrenta contra seus militantes, gerando milhares de mortos, detenções massivas, que terminaram em condenações à morte, prisão perpétua e muitas em desaparecimentos forçados.
A onda repressiva que se estendeu após o golpe a todo o país parece ter-se concentrado com maior força no Sinai, onde até hoje se sabe muito pouco do que acontece.
Sabe-se que, ao longo de todos esses anos, ocorreram milhares de detenções de residentes do Sinai, que permaneceram, alguns, desde semanas até anos, completamente em isolamento. Uma família local, cujos três membros foram presos no marco de uma razzia em 2016, continua na situação de detidos-desaparecidos, sem que esta família tenha obtido resposta por parte das autoridades.
Em muitos casos, se não na maioria, arbitrárias, para serem reclusos em prisões secretas, algumas no interior de bases militares como a de al-Saha, próxima a Rafah, al-Zohour em Sheikh Zuweid ou no Batalhão 101 da cidade de Arish, capital do Sinai do Norte, nas quais se registraram execuções sumárias, fazendo-as passar por enfrentamentos armados. Nada de novo debaixo do sol.
O que acontece no Sinai, fica no Sinai
Em todos esses anos, e em consequência da impunidade que o governo de al-Sisi deu aos militares, os desaparecimentos e mortes contam-se por milhares, embora seja impossível conseguir um número certo. Inclusive é um registro que provavelmente nem as próprias autoridades possuem.
Antes do início desta operação, em declarações públicas feitas por porta-vozes das forças de segurança e clérigos pró-governo, afirmava-se que os militantes do Daesh “não tinham direito a proteção legal e que as forças do governo estavam isentas de aderir às normas e leis que regem os conflitos armados e as operações antiterroristas”.
Em sua grande maioria, os mortos nessas execuções extrajudiciais, perpetradas pelas tropas regulares — entre os quais há provas de que também foram vítimas menores de idade — foram escondidos em fossas comuns espalhadas ao longo do deserto.
Alguns desses enterramentos secretos foram localizados nas proximidades da cidade de al-Arish, onde restos de corpos corroídos pelo clima podiam ser vistos a olho nu, apenas cobertos com uma fina camada de areia. Outros apareceram enterrados a apenas meio metro de profundidade, em um campo próximo onde havia funcionado um acampamento militar e a pouco mais de 300 metros de uma importante estrada da região. Essa área havia sido bloqueada pelos militares durante os momentos mais cruentos da guerra contra o terrorismo (2013 e 2022). Quando até mesmo os próprios aldeões tinham restringido seu direito de circulação, inclusive para dirigir-se aos mercados onde vendiam sua produção agrícola ou simplesmente para abastecer-se.
O lugar encontra-se cercado por alambrados, que impedem que “curiosos” se aproximem. Existem provas de ao menos outra fossa no centro do Sinai, junto com informação preliminar de residentes locais que aponta para outros possíveis lugares.
Essas mesmas fontes asseguram que pessoal do exército, com o apoio de grupos de autodefesa no Sinai do Norte, realizaram execuções sumárias em campos de detenção. Essas afirmações são confirmadas pela aparição de vídeos, em que se veem prisioneiros algemados e encapuzados, que mais tarde são apresentados como mortos em enfrentamentos.
Segundo fontes oficiais, o exército reconheceu pouco mais de cinco mil insurgentes mortos em diversas operações antiterroristas, e cerca de quinze mil detidos, suspeitos de algum tipo de vínculo com os mujahideens. Apesar de que a cifra certamente seja muito maior, segundo as denúncias, o número declarado é significativo, se se leva em conta que entre 2013 e 2018 haviam sido reconhecidas entre mil e mil e quinhentas vítimas do exército.
Um ex-chefe militar do Ministério do Interior, o general de divisão Khaled El-Shazly, sem pudor, revelou que as forças de segurança executam os suspeitos sem processos judiciais, já que isso é um “mandato divino”.
Por sua vez, Ali Gomaa, ex-Grão-Mufti do Egito, instou a executar os terroristas do Sinai, argumentando que quem atacasse “o exército egípcio era infiel e jariyí” (apóstatas). As declarações do líder religioso, segundo distintas fontes pró-governo, foram interpretadas como o ditado de uma fatwa. Muitos dos crimes também foram atribuídos a vinganças pessoais, disputas tribais ou ações autônomas de membros das milícias de autodefesa colaboracionistas do exército, conhecidas como manadeeb (agentes).
Ainda que a infiltração do terrorismo tenha praticamente asfixiado o país no social e até no econômico, produzindo uma forte quebra na indústria do turismo, cujas receitas caíram, nos anos mais duros, em mais de 50%, talvez a guerra suja não seja a melhor resposta.
Por Guadi Calvo, no Línea Internacional




















.png)


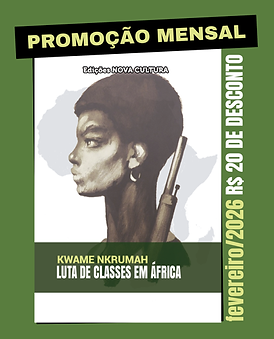






















































































































































Comentários