"Imigrantes: também se morre no paraíso"
- NOVACULTURA.info

- 14 de ago. de 2025
- 5 min de leitura

Não é muita a atenção midiática dada ao que acontece ao longo das rotas migratórias que, desde a África, levam, levaram e continuarão levando centenas de milhares de Imigrantes à Europa. Provenientes majoritariamente do próprio continente, embora também haja asiáticos e até latino-americanos.
Os recursos financeiros e materiais que a União Europeia (UE) tem desperdiçado para fechar aquelas rotas — incentivando e financiando políticas repressivas dos governos de Marrocos, Tunísia, Líbia ou Egito contra as ondas de imigrantes que chegam às suas costas para se lançar ao Mediterrâneo, ou, como também ocorre, desde a Mauritânia ou Senegal rumo às Canárias — são sempre menores do que as razões que os impulsionam a abandonar tudo para escapar dos infernos que as políticas dos Estados Unidos e seus sócios europeus construíram em seus países.
O desespero é tal que eles não se intimidam diante dos milhares de quilômetros que devem percorrer por desertos, onde muitas vezes são abandonados pelos traficantes, para morrer de desidratação ou fome — uma das opções mais “generosas”. Também existe a possibilidade de serem sequestrados no meio do caminho, obrigando suas famílias, em muitos casos, a se endividarem por anos para pagar o resgate, ou terminarem vendidos como escravos, ou simplesmente perecerem devido à dureza da jornada. Ainda que saibam muito bem que embarcar também não é garantia de nada. Desde que eclodiu a crise migratória em 2014, segundo fontes europeias — sempre discretas —, os desaparecidos no mar seriam cerca de 52 mil.
Já dissemos que há pouca cobertura informativa dessas tragédias, que ocorrem a todo momento nessas rotas, mas ela é ainda menor no caso da que discretamente se traçou desde a Etiópia até a Arábia Saudita — igualmente perigosa, igualmente desesperadora, igualmente esquecida.
O trecho que vai da cidade etíope de Barayu, no coração da Oromia, até Riade, capital saudita, ou outros destinos do Golfo Pérsico tem mais de dois mil e duzentos quilômetros, distância que, no terreno, se duplica, podendo levar mais de seis meses para ser percorrida, se não houver imprevistos.
A maioria dos imigrantes faz o trajeto a pé, por desertos onde as temperaturas podem superar os quarenta e cinco graus. Os mais afortunados cobrem alguns trechos em ônibus, caso consigam algum trabalho temporário que lhes permita continuar — possibilidade extremamente remota, já que as áreas por onde passam são tão ou mais pobres que as de onde vêm.
Ao chegar ao porto de Obock (Djibuti) ou a algum outro no norte da Somália, como Berbera ou Bosaso, sobre o golfo de Áden, embarcam em lanchas que os levarão ao Iêmen — dependendo do caso, em travessias de 40 a 200 quilômetros.
Para a maioria desses passageiros, é o momento em que, pela primeira vez na vida, veem o mar — um mar permanentemente agitado pelo tráfego de grandes navios que, desde o golfo de Áden, tentam entrar pelo estreito de Bab el-Mandeb rumo ao Mar Vermelho e ao canal de Suez, ou vice-versa, hoje quase fechado pela ofensiva houthi em defesa da Palestina.
Foi nesse trecho que, no último domingo, dia 3, 160 imigrantes desapareceram quando a embarcação, com capacidade para cem, naufragou no meio do percurso. Confirmou-se a morte de noventa, doze homens foram resgatados e o restante segue desaparecido. Esse acidente é apenas mais um entre tantos que ocorrem periodicamente na chamada “Rota Oriental”, por onde todos os anos passam milhares de pessoas, particularmente dos países do Chifre da África (Etiópia, Eritreia, Somália e Djibuti), embora também cheguem muitos vindos do Sul e do Leste.
No caso do naufrágio de domingo, na área de Shuhrah, próximo à costa iemenita, a maioria das vítimas era de etíopes, que fugiam não apenas da falta de oportunidades, mas também da convulsiva realidade que o país vive desde o início da guerra de Tigray. Embora formalmente encerrada em novembro de 2022 — ao custo de cerca de um milhão de mortos —, suas consequências econômicas, políticas e sociais continuam, a ponto de muitos considerarem quase certa a possibilidade de reinício do conflito.
Em 2024, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 462 imigrantes se afogaram no golfo de Áden, embora, como sem dúvida acontece no Mediterrâneo e na rota do Atlântico, o número real de mortos seja muito maior. Ainda segundo a OIM, ao longo de 2024, quase 70 mil imigrantes chegaram ao Iêmen cruzando o golfo de Áden. Em março, ocorreram quatro naufrágios que deixaram 180 desaparecidos.
Atualmente, as áreas rurais de Oromia, Amhara e Tigray — as mais afetadas pela guerra civil (2020-2022) — são as que mais alimentam as redes de traficantes. A maioria desses Imigrantes tem como principal objetivo a Arábia Saudita, onde acreditam encontrar os melhores salários, sem nem mesmo saber exatamente onde fica o destino, quais trabalhos irão realizar ou suspeitar das reais condições de vida que, se conseguirem emprego, os aguardam.
A maioria dos que consegue atravessar o golfo de Áden, mais ou menos viva, descobre que não chegou ao reino saudita, mas sim a um país chamado Iêmen — que, como eles, está “mais ou menos vivo” após mais de dez anos de guerras civis, atentados terroristas, a guerra e invasão saudita (2015-2020) e os constantes bombardeios estadunidenses, britânicos e sionistas contra a milícia houthi, a única força militar no mundo que hoje apoia a Palestina.
Entre o ponto de chegada à costa iemenita, que pode ser o porto de Áden, até a fronteira saudita, são aproximadamente 500 quilômetros em linha reta. No entanto, devido às condições montanhosas do Iêmen e à presença de grupos armados e máfias caçando oportunidades, os Imigrantes são obrigados a mudar constantemente de rota, escondendo-se para evitar serem assaltados, escravizados ou vendidos a outras quadrilhas que, mais organizadas, possam pedir resgates, mantendo-os presos por anos até que a família consiga pagar pela libertação.
A atual situação no Iêmen fez com que muitos imigrantes ficassem presos na cidade de Áden e em outras localidades, vivendo nas ruas em extrema pobreza, somando-se à grave crise humanitária já vivida pelos cerca de 40 milhões de iemenitas — dos quais 17 milhões sofrem insegurança alimentar, 3,5 milhões têm desnutrição grave e 5 milhões tiveram de se deslocar para escapar dos combates.
Para os que continuam a jornada, a chegada à fronteira saudita talvez seja o ponto mais perigoso. Não apenas pelo muro que Riad constrói há anos na divisa, mas porque a guarda de fronteira atira sem aviso e ao acaso, gerando um número de vítimas sobre as quais não há registros oficiais.
Os mais “afortunados” — aqueles que conseguem entrar na Arábia Saudita ou em outro país do Golfo —, em sua maioria o fazem sob as regras do sistema kafala, pelo qual um trabalhador estrangeiro precisa de um kafeel (patrocinador ou empregador local) para entrar, viver e trabalhar legalmente. A dependência do trabalhador em relação ao kafeel é total: além de reter o passaporte e controlar suas saídas do país, o patrocinador dispõe dele como quiser, não sendo possível sequer trocar de emprego sem sua autorização — o que deixa o trabalhador em situação de completa submissão, permitindo todo tipo de abuso. Praticamente não há denúncias contra kafeels, por medo de perder o trabalho.
Ao mesmo tempo, os controles estatais sobre os Imigrantes são constantes, com batidas policiais permanentes. Na menor irregularidade — que depende da boa vontade ou do suborno às autoridades —, o trabalhador é deportado, muitas vezes sem direito de recuperar seus pertences ou dinheiro, ficando do outro lado da fronteira, possivelmente em condições piores que as de quando chegou, e obrigado a enfrentar uma viagem de volta tão perigosa quanto a ida ao paraíso, onde também se morre.
Por Guadi Calvo, no Línea Internacional




















.png)








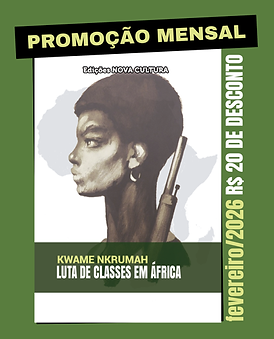




















































































































































Comentários