"A Contribuição da África no Desenvolvimento Capitalista da Europa"
- NOVACULTURA.info

- 2 de fev. de 2023
- 39 min de leitura

5.1. A expatriação da mais-valia africana sob o colonialismo
a) O capital e o trabalho africano
A África colonial viu-se integrada no setor da economia capitalista mundial, em que a mais-valia era sugada para alimentar o setor metropolitano. Como já vimos anteriormente, a exploração da terra e do trabalho é essencial para o avanço econômico do homem, mas apenas quando o produto social permanece na região onde se efetua a exploração. O colonialismo não foi apenas um sistema de exploração; a repatriação dos lucros para a chamada “mãe-pátria”, constituindo o objetivo central deste sistema, foi uma das suas características específicas. Isto conduziu, logicamente, à expatriação sistemática da mais-valia, produzida pela força de trabalho africana, para fora do continente, e ao desenvolvimento da Europa como parte do mesmo processo dialético em que a África se via subdesenvolvida.
É indiscutível que a força de trabalho era barata em África e que a massa da mais-valia extraída do trabalhador africano era enorme. No colonialismo, o trabalhador recebia um salário extremamente pequeno – geralmente insuficiente para o manter fisicamente vivo – e, por conseguinte, tinha de cultivar produtos agrícolas para sobreviver. Isto aplicava-se em particular ao trabalho nas fazendas, nas minas e a certos empregos nas cidades. Na altura da imposição do domínio colonial europeu, os africanos eram capazes de viver razoavelmente à custa do cultivo da terra. Ainda que muitos mantivessem o contacto com as culturas agrícolas, nos anos seguintes, a verdade é que tiveram de trabalhar fora das suas terras, devido a terem de pagar elevados impostos ou porque eram obrigados diretamente a tal. Na Europa, após o Feudalismo, o trabalhador não tinha nenhuns meios de subsistência para além da venda da sua força de trabalho aos capitalistas. Em certa medida, o capitalista era “responsável” na manutenção da sobrevivência do trabalhador, pagando-lhe um “salário para viver”. Na África não se passou assim. Os europeus pagavam os salários mais baixos possíveis, deixando à legislação repressiva a tarefa de manter essa situação.
Conjugaram-se vários fatores que explicam o fato de o trabalhador africano ter sido muito mais cruelmente explorado do que o seu colega europeu, no atual século. Primeiramente, verificamos que a potência colonial estrangeira detinha o exclusivo do poder político, após ter esmagado toda a oposição por meio de um exército superior. Em segundo lugar, a classe operária africana era muito fraca, muito dispersa, e muito instável devido às tendências migratórias. Terceiro, enquanto o capitalismo explorava todos os trabalhadores indiferentemente os capitalistas europeus na África tinham justificações adicionais, de caráter racista, para atuarem injustamente para com o trabalhador africano. A teoria racista de que os negros eram inferiores aos brancos levava à conclusão de que os primeiros mereciam salários mais baixos; é interessante verificar que as populações árabes e berberes do Norte da África, ainda que tendo a pele clara, eram tratadas como “negras” pelos racistas brancos franceses. A influência dos fatores referidos dificultou extraordinariamente a organização dos trabalhadores africanos. A classe trabalhadora defende-se da tendência natural dos capitalistas em explorar até aos limites físicos através da organização e da resistência. Quando os trabalhadores africanos compreenderem a necessidade da ação sindical, viram-se atingidos por numerosos obstáculos levantados a essa atividade pelas autoridades coloniais.
Os salários recebidos pelos trabalhadores na Europa e na América do Norte eram muito mais elevados do que os pagos aos trabalhadores africanos, para categorias idênticas. Na Nigéria, o mineiro de Enugu recebia $4 por dia pelo trabalho no subsolo e $ 2,5 pelos trabalhos realizados à superfície. Um salário tão miserável como este seria inaceitável para um mineiro escocês ou alemão, que recebia em uma hora aquilo que o mineiro de Enegu ganhava aos fins de uma semana de trabalho. Existia a mesma disparidade em relação aos estivadores. Os registros da Farrel Lines, importante companhia estadunidense de navegação, indicam que em 1955 cinco sextos do total despendido com as operações de embarque e desembarque de carga entre os portos de África e da América destinavam-se aos trabalhadores americanos, contra apenas um sexto para os africanos. Note-se que o mesmo volume de carga era embarcado nos dois continentes. Os salários pagos aos estivadores americanos e aos mineiros europeus asseguravam, já de si, uma elevada taxa de mais mais-valia para os capitalistas. Queremos aqui destacar apenas a intensidade da exploração de que eram vítimas os trabalhadores africanos.
Tais discrepâncias são “atenuadas” pelos defensores do colonialismo, que se apressam a dizer que o nível e o custo de vida nos países “civilizados” eram incomparavelmente superiores ao das colônias. Todavia, não nos dizem estes senhores que esse nível de vida mais elevado se tornou possível pela exploração colonial, e que não existia justificação para manter os níveis de vida dos africanos em um ponto tão baixo, em uma altura em que era possível melhorá-los. O nível de vida do trabalhador africano no continente é rapidamente ilustrado pelos salários e estilo de vida dos brancos em África.
Os governos coloniais proibiram a admissão de africanos a empregos de categorias superiores; e, sempre que sucedia um branco e um negro ocuparem um mesmo posto, o branco recebia ordenado consideravelmente superior. Isto acontecia em todos os níveis, desde os lugares na administração civil até aos mineiros. Nas colônias britânicas da Costa do Ouro e da Nigéria os assalariados africanos eram melhor pagos do que seus irmãos em muitas outras partes do continente, mas estavam restringidos, na administração civil, aos empregos inferiores. No período anterior à última Guerra Mundial, os funcionários civis europeus recebiam na Costa do Ouro uma média de $ 2400 por mês, com alojamento e outras regalias. Os africanos obtinham um salário médio de $ 240, por um trabalho muito mais duro. Houve casos em que um europeu ganhava tanto quanto o conjunto dos seus 25 auxiliares africanos. Além do serviço na administração civil, os africanos conseguiram empregar-se na construção de edifícios, nas minas e como criados domésticos – empregos todos mal remunerados. Era a exploração desenfreada, sem limites. Em 1934, morreram 41 africanos em um acidente em uma mina de ouro na Costa do Ouro, e a companhia capitalista ofereceu apenas $ 180 de indenização aos familiares dependentes de cada trabalhador.
Nas regiões em que os colonos europeus se fixavam em grande número, as diferenças salariais eram facilmente perceptíveis. No Norte da África os salários dos argelinos e marroquinos eram 16% a 25% dos recebidos pelos europeus. Na África Central a proporção era muito pior, nomeadamente no Quênia e no Tanganica. Comparando os salários e o nível de vida dos colonos brancos com os dos africanos, depara-se um contraste agudo. Enquanto o lorde Delamere era proprietário de 100 mil acres das terras do Quênia, o africano tinha de possuir um passe para, na sua própria região, poder mendigar um emprego de 50 a 60 escudos por mês. O máximo da brutal exploração encontrava-se nas regiões setentrionais do continente; na Rodésia do Sul, por exemplo, os trabalhadores agrícolas raramente recebiam mais de $ 45 por mês. Os mineiros obtinham um pouco mais, caso fossem semiespecializados, mas em contrapartida tinham de suportar condições de trabalho ainda mais duras. Os mineiros não especializados na Rodésia do Norte ganhavam, muitas vezes, $ 28 por mês. Um motorista de caminhões na famosa cintura do cobre, era considerado semiqualificado. Em uma mina, os europeus recebiam $ 2100 por mês, ao passo que pelo mesmo trabalho os africanos obtinham $ 180.
Em todos os territórios coloniais, os salários foram reduzidos durante o período da crise que abalou o mundo capitalista durante os anos trinta, não tendo sido restabelecidos senão depois da Última Guerra Mundial. Na Rodésia do Sul, em 1949, o salário-mínimo dos empregados africanos em áreas municipais foi aumentado de 140 para 300 escudos. Foi um considerável aumento em relação a anos anteriores, mas os trabalhadores brancos (com carga horária de trabalho de 8 horas, enquanto negros trabalhavam entre 10 e 14 horas) recebiam um salário-mínimo de $ 70 por dia, com direito a alojamento e outras regalias…
Os rodesianos apresentavam uma versão em miniatura do sistema do apartheid, que oprime a classe operária mais numerosa do continente. Na União Sul-Africana, os mineiros negros trabalhavam em condições desumanas, em grandes profundidades, que não seriam suportadas pelos mineiros na Europa. Consequentemente, os trabalhadores negros sul-africanos exploravam ouro de depósitos que, noutras paragens, seriam considerados não comerciais. E neste caso era apenas o setor branco da classe operária que recebia aumentos nos salários. Mesmo os próprios funcionários oficiais admitiram que as companhias mineiras podiam pegar aos brancos salários mais elevados do que em qualquer outra parte do mundo devido aos superlucros tornados possíveis pelo pagamento aos trabalhadores negros de uma mera ração.
No essencial, eram os acionistas das companhias mineiras quem mais beneficiavam com esta situação. Vivendo comodamente na Europa e na América do Norte, recebiam dividendos fabulosos do ouro, diamantes, manganês e urânio etc., extraídos do subsolo sul-africano pelos trabalhadores negros. Durante anos, a própria Imprensa burguesa elogiava a África Austral como região propícia aos investimentos fabulosos. Desde o início da corrida à África, foram acumuladas elevadas fortunas, com base no ouro e diamantes da África Austral, por pessoas como Cecil Rhodes. No século atual, tanto os investimentos como a saída de mais-valia tiveram um grande aumento. Os investidores afluíram especialmente ao setor mineiro e ao mercado financeiro, onde os lucros eram maiores. Nos meados da década de 50, investimentos britânicos na África do Sul eram calculados em 5160 milhões de escudos e rendiam um lucro líquido de 15%, ou seja 7740 milhões de escudos, por ano. Muitas companhias tinham lucros bastante acima desta média. A companhia De Beers obtia lucros fenomenais nos anos 50 – entre 1560 e 1740 milhões de escudos.
O complexo dos interesses mineiros da África Austral não se reduzia África do Sul; estendia-se pelo Sudoeste Africano, Angola, Moçambique, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul e Congo. O Congo foi uma fonte de imensa riqueza para a Europa, pois só desde o início da colonização até 1960 o rei Leopoldo da Bélgica viu a sua fortuna aumentada em 1200 milhões de escudos, oriundos da borracha e do marfim. O período da exploração mineira começou bastante cedo e ganhou uma grande amplitude quando, em1908, o controle político passou do rei Leopoldo para o Estado belga. Os belgas calcularam o conjunto dos capitais estrangeiros investidos no Congo, entre 1887 e 1953, em 5,700 milhões de libras esterlinas. O valor da mais-valia expatriada no mesmo período, derivada unicamente dos lucros realizados no Congo, foi calculado em 4,300 milhões de libras esterlinas. Tal como o verificado em todas as regiões do continente, a expatriação da mais-valia no Congo aumentou à medida em que o sistema colonial se intensificava e prolongava. Nos cinco anos que antecederam a independência, a saída líquida de capital do Congo para a Bélgica atingiu proporções maciças. A maior parte da expatriação do excedente foi tratada por um grande monopólio financeiro europeu, a Société Générale. A Société Générale tinha como sua subsidiária mais importante a Union Miniére de Haute Katanga, que monopoliza a produção de cobre congolesa desde 1889 (quando era conhecida como a Compagnie de Katanga). A Union Miniére é conhecida por ter um lucro de 27 milhões de libras esterlinas em um único ano.
Não é de se admirar que da riqueza total produzida no Congo em um determinado ano, durante o período colonial, mais de um terço saiu sob a forma de lucros para grandes negócios e salários para seus funcionários expatriados. Mas em comparação com a Rodésia do Norte sob os britânicos o número desse lucro caia para a metade. No Katanga, a Union Miniére tinha pelo menos a reputação de deixar alguns dos lucros para trás na forma de coisas como moradia e serviços de maternidade para trabalhadores africanos. As Rhodesian Copper Belt Companies expatriavam os lucros sem remorsos.
Não se deve esquecer que fora da África Austral, havia também significativas operações de mineração durante o período colonial. No norte da África, o capital estrangeiro explorou recursos naturais de fosfatos, petróleo, chumbo, manganês, zinco e minério de ferro. Na Guiné, Serra Leoa e Libéria, havia importantes obras de ouro, diamantes, minério de ferro e bauxita. A tudo isso se deve acrescentar o estanho da Nigéria, o ouro e o manganês de Gana, o ouro e os diamantes de Tanganica, e o cobre de Uganda e do Congo-Brazzaville. Em cada caso, a compreensão da situação deve começar com um inquérito sobre o grau de exploração dos recursos e da mão-de-obra africana e, em seguida, deve proceder a seguir o excedente até seu destino fora da África – nas contas bancárias dos capitalistas que controlam as ações majoritárias combinadas com a enorme mineração multinacional.
A classe trabalhadora africana produziu um excedente menos espetacular para exportação em relação às empresas que se dedicam à agricultura. As plantações agrícolas estavam disseminadas no Norte, Leste e África do Sul; e apareceram em menor escala na África Ocidental. Seus lucros dependiam dos salários incrivelmente baixos e das duras condições de trabalho impostas aos trabalhadores agrícolas africanos e do fato de que eles investiam muito pouco capital na obtenção da terra, a qual era roubada dos africanos por potências coloniais e depois vendida aos brancos a preços nominais. Por exemplo, após as terras altas do Quênia terem sido declaradas “Terra da Coroa”, os britânicos entregaram a Lord Dela¬mere 100 mil acres das melhores terras ao custo de um centavo por acre. Lord Francis Scott comprou 350 mil acres, a East African Estates Ltd. recebeu outros 350 mil acres, e o East African Syndicate tomou 100 mil acres contíguos à propriedade de Lord Delamere - tudo a preços de centavo. É desnecessário dizer que tais plantações tiveram lucros enormes, mesmo que a taxa fosse inferior à de uma mina de ouro sul-africana ou de uma mina de diamantes angolana.
Durante a era colonial, a Libéria era supostamente independente; mas para todos os efeitos, era uma colônia dos EUA. Em 1926, a Firestone Rubber Company dos EUA conseguiu adquirir um milhão de acres de terra florestal na Libéria a um custo de 6 centavos por acre e 1% do valor da borracha exportada. Por causa da demanda e da importância estratégica da borracha, os lucros da Firestone com terras e a mão-de-obra da Libéria os levaram à 25° posição entre as empresas gigantes dos EUA.
b) Empresas comerciais contra o campesinato africano
Até aqui, esta seção tem tratado da parte do excedente produzido pelos assalariados africanos em minas, plantações etc. Mas a classe trabalhadora africana sob o colonialismo era extremamente pequena e a grande maioria dos africanos envolvidos com a economia monetária colonial eram camponeses independentes. Como então se pode dizer que os camponeses autônomos estavam contribuindo para a expatriação do excedente africano? Apologistas do colonialismo argumentam que era um benefício positivo para tais agricultores ter tido a oportunidade de criar excedentes através do cultivo ou coleta de produtos como cacau, café, óleo de palma etc. É essencial que esta deturpação seja esclarecida.
Um camponês que cultivava uma cultura ou coleta de produtos teve seu trabalho explorado por uma longa cadeia de indivíduos, a começar pelos empresários locais. Às vezes, esses homens de negócios locais eram europeus. Muito raramente eram africanos, e mais geralmente eram um grupo minoritário trazido de fora e servindo como intermediários entre os colonialistas brancos e o camponês africano explorado. Na África Ocidental, os libaneses e os sírios desempenharam este papel; enquanto na África Oriental os nativos ascenderam a tal posição. Os árabes também estavam na categoria de intermediários em Zanzibar e em alguns outros lugares da costa leste africana.
Os camponeses da cultura do dinheiro nunca tiveram capital próprio. Eles existiam de uma cultura para outra, dependendo de boas colheitas e bons preços. Qualquer má colheita ou queda de preços fez com que os camponeses pedissem emprestado para encontrar dinheiro para pagar impostos e comprar certos bens necessários. Como garantia, hipotecaram suas futuras safras a financiadores como intermediários. O não pagamento de dívidas podia e fazia com que suas fazendas fossem tiradas pelos prestamistas. A taxa de juros sobre os empréstimos sempre foi fantasticamente alta, atingindo o que é conhecido como “usura”. Na África Oriental, as coisas eram tão ruins que até mesmo o governo colonial britânico teve que intervir e promulgar uma “Lei de Crédito Nativo” para proteger os africanos dos empresários asiáticos.
Entretanto, apesar de alguns confrontos menores entre os colonialistas e os intermediários, os dois eram parte e parcela do mesmo aparato de exploração. No conjunto, os libaneses e os nativos faziam trabalhos menores com os quais os europeus não podiam ser incomodados. Eles eram donos de coisas como fábricas de algodão que separavam a semente do fiapo; enquanto, evidentemente, os europeus se concentravam nas fábricas de algodão na Europa. Os intermediários também saíam para as aldeias, enquanto os europeus gostavam de ficar nas cidades. Nas aldeias, os nativos e libaneses assumiram praticamente todas as compras e vendas; canalizando a maior parte dos lucros de volta para os europeus nas cidades e para os estrangeiros.
A parte dos lucros que foi para intermediários era insignificante em comparação com aqueles lucros obtidos pelos grandes interesses comerciais europeus e pelos próprios governos europeus. A instituição capitalista que entrou em contato mais direto com os camponeses africanos foi a empresa comercial colonial: ou seja, uma empresa especializada na movimentação de mercadorias de e para as colônias. As mais notórias foram as francesas, a Compagnie Française d'Afrique Occidentale (CFAO) e a Societé Commerciale Ouest Africaine (SCOA) e a United Africa Company (UAC) controlada britânica. Essas foram responsáveis pela expatriação de grande parte da riqueza da África produzida por trabalhadores camponeses.
Várias das empresas comerciais coloniais tinham sangue africano em suas mãos devido à participação no comércio de escravos. Assim, depois que os comerciantes franceses em Bordeaux fizeram fortunas com o comércio de escravos, eles transferiram esse capital para o comércio de amendoins do Senegal e da Gâmbia em meados do século XIX. As empresas em questão continuaram a operar no período colonial, embora tenham mudado de mãos e tenha havido muitas fusões. No Senegal, Mauritânia e Mali, os nomes de Maurel & Prom, Maurel Brothers, Buhan & Teyssere, Delmas & Clastre eram todos bem conhecidos. Vários deles foram eventualmente incorporados ao SCOA, que foi dominado por um consórcio de financistas franceses e suíços. Verificou-se no porto francês de Marselha um processo similar, que levou à transferência do capital proveniente do tráfico de escravos para o comércio direto entre a África e a França. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a maioria das pequenas empresas marselhesas viram-se integradas na poderosa C.F.A.O., que importava para a África Ocidental Francesa todas mercadorias europeias susceptíveis de serem absorvidas pelo mercado local, exportando os produtos agrícolas, fruto do trabalho dos camponeses. A C.F.A.O. também tinha capital britânico e alemão e se estendia à Libéria e às colônias britânicas e belgas. Calcula-se que a S.C.O.A. e a C.F.A.O. tiveram lucros acima dos 90% nos anos “bons” e 25 % nos piores anos.
Na Grã-Bretanha, o porto de comércio de escravos de Liverpool foi o primeiro a dedicar-se ao óleo de palma nos princípios do século XIX, quando o tráfico de escravos se tornou difícil ou impossível. Isso significa que as companhias de Liverpool deixaram de explorar a África pela deslocação dos escravos de uma região para outra. Em vez disso, passaram a explorar a força de trabalho e matérias-primas de África dentro da África. Durante o século XIX e no período colonial, Liverpool prosperou largamente devido à importação de produtos dos camponeses africanos. Este porto britânico, servindo os distritos industrializados de Manchester e Cheshire, controlava uma grande parte do comércio britânico e europeu com a África no período colonial – tal como o sucedido no período de tráfico de escravos. Glasgow também tinha grandes homens de negócios de Londres. Em 1929, Londres tomou a posição de Liverpool como principal porto no comércio com a África.
Como já referimos, a U.A.C era a companhia britânica mais conhecida entre as empresas comerciais. Era uma filial da Unilever, um gigantesco monopólio anglo-holandês; tinha agências em todas as colônias britânicas de África Ocidental e, em menor grau, na África Oriental. A Unilever também controlava a Compagnie du Niger Français, a Compagnie Française de La Côte d’Ivoire a S.C.K.N. no Chade, a N.O.S.O.K.O. no Senegal, a N.S.C.A na Guiné Portuguesa e a John Walken & Co. Ltd. no Daomé. Ainda que algumas outras empresas britânicas e francesas não se encontrassem em todas as colônias, a verdade é que se entrincheiravam nas áreas particulares onde atuavam, como é o caso da John Holt na Nigéria.
Na África Oriental, o comércio externo realizava-se através de empresas mais reduzidas que as da África Ocidental, mas, mesmo assim, havia cinco ou seis, muito maiores que as restantes, que se apropriavam de lucros elevadíssimos. Uma das mais antigas era a Smith Mackenzie, filial da companhia escocesa Mackinnon and Mackenzie, que foi pioneira na colonização britânica de África Oriental e que também possuía interesses na Índia. Também foram empresas comerciais famosas as de A. Baumann, Wigglesworth and Company, Dalgetty, Leslie & Anderson, Ralli Bros., Michael Cotts, Jos Hansen, The African Mercantile e Twentsche Overseas Trading Co. Algumas delas fundiram-se antes de terminar o período colonial, e todas tinham diversas outras filiais, assim como estavam ligadas a companhias mais poderosas nas metrópoles. A U.A.C também tinha uma fatia na atividade de importação da África Oriental, após ter adquirido a companhia Galey and Roberts, fundada em 1904 por colonos brancos.
É fácil compreender o modo de apropriação da mais-valia na África Oriental, onde havia uma centralização dos seus mecanismos em Nairobi e no porto de Mombaça. Todas as grandes firmas tinham sede em Nairobi, possuindo escritórios em Mombaça que asseguravam contatos com armazéns, navios, seguros etc. No Uganda e no Tanganica, as grandes companhias tinham filiais em Kampala e em Dar-es-Salam. Até ao início da última guerra, era relativamente pequeno o volume de mercadorias provindas de África Oriental; porém, a partir dessa altura, cresceu rapidamente. Por exemplo, o valor das importações do Quênia aumentou de 24 milhões de escudos para 204 milhões em 1950 e 420 milhões em 1960. Claro que o montante das exportações cresceu paralelamente, sendo as grandes companhias os principais beneficiários do aumento do comércio externo.
Com base em investimentos relativamente pequenos, as companhias comerciais fizeram grandes fortunas nas regiões em que predominavam as culturas dos camponeses, não necessitando de despender dinheiro com o cultivo dos produtos. O camponês africano dedicava-se ao amanho da terra, em função das necessidades das companhias, por vários motivos. Alguns, aproveitavam freneticamente a oportunidade para poderem continuar a adquirir bens de consumo europeus, aos quais se tinham acostumado durante o período pré-colonial. Muitos outros tinham em vista receber dinheiro, pois tinham de pagar diversos impostos em moeda, ou eram obrigados a trabalhar pelos brancos. Temos muitos exemplos de africanos que foram efetivamente forçados a cultivar pela força das armas e do chicote, como no Tanganica sob o domínio alemão, nas colônias portuguesas, na África Equatorial Francesa e no Sudão francês. Em qualquer das situações, raramente acontecia o camponês estar completamente dependente do dinheiro recebido. As companhias comerciais, sabendo que este e a família poderiam subsistir com base nas suas culturas, aproveitavam-se desse fato para não se sentirem na obrigação de pagar preços suficientes para a manutenção do camponês. Ou seja, as companhias estavam simplesmente a receber tributos de um povo conquistado, sem se preocuparem sequer em saber em quais condições eram produzidas essas contribuições “voluntárias”.
As companhias comerciais também dispunham em África dos seus próprios meios de transporte, como por exemplo barcos a motor e camionetas. Mas, geralmente, tinham a preocupação de transferir os custos do transporte das cargas para os camponeses, através dos intermediários libaneses ou indianos. Tais companhias capitalistas sujeitavam camponeses a uma pesada situação, pois controlavam quer os preços das colheitas como os das mercadorias importadas, como ferramentas, roupas e bicicletas, preferidas pelos africanos. Por exemplo, a U.A.C. e outras companhias comerciais da Nigéria reduziram drasticamente os preços dos derivados das palmeiras em 1929, enquanto o custo de vida aumentava devido aos consideráveis acréscimos dos preços das mercadorias importadas. Em 1924, o preço do óleo de palma era de $ 50 por galão. Em 1928 descia para $ 28 e no ano seguinte estava em $ 4,50! Ainda que nos anos de crise as companhias comerciais recebessem menos por cada tonelada de óleo de palma, a taxa de lucro aumentou, o que mostra o grau de exploração a que estava submetido o camponês africano. A U.A.C. apresentava belos lucros a meio da crise: $ 37.817.250 em 1934, com dividendos de 15% para as ações correntes.
Em toda a parte, a África colonial repetia-se este panorama. Em Sukumaland (Tanganica), o preço do algodão descia em 1930 de $ 2,40 para 48 centavos por libra. As colônias francesas foram atingidas um pouco mais tarde, pois a depressão só afetou a zona monetária francesa depois de 1931. Nessa altura, preços do amendoim senegalês desceram ainda mais, visto serem luxos para o comprador europeu. Mais uma vez se nota que a C.F.A.O. e a S.C.O.A. encontravam preços mais baixos ao exportarem matérias-primas para a Europa, mas nunca tiveram quaisquer perdas. Em vez disso, foram os camponeses e os trabalhadores de África que se ressentiram, principalmente no trabalho forçado. Os camponeses africanos dos territórios franceses eram obrigados a agruparem-se nas chamadas sociedades cooperativas, que os forçavam a cultivar determinados tipos de algodão e a aceitar quaisquer preços por elas impostos.
Mal passara a depressão, já a Europa estava em guerra. Então, os governos ocidentais arrastaram o povo africano a se bater pela liberdade! As companhias comerciais não deixaram passar a oportunidade de aumentar a taxa de exploração, em nome de Deus e do País. Na Costa do Ouro, pagavam $600 pela tonelada de sementes de cacau, em comparação com os $3000 de antes da guerra. Simultaneamente, o preço das mercadorias importadas duplicou ou triplicou. Muitos bens de consumo tornaram-se inacessíveis ao homem médio. Na Costa do Ouro, a peça de tecido de algodão, que antes da guerra era vendida a $ 48, passou a custar $ 360 em 1945. Na Nigéria, o metro de caqui passou de $ 12 para $ 52…
Os mais afetados pela alta de preços foram os trabalhadores urbanos que tinham que adquirir as necessidades Cotidianas com dinheiro. O descontentamento operário alastrou ainda mais na altura do pós-guerra. Realizaram-se diversas greves, e na Costa do Ouro o boicote às mercadorias importadas, em 1948, tornou-se o prelúdio da autodeterminação, sob Nkrumah. Todavia, também os camponeses reagiram. No Uganda, os cultivadores de algodão já não podiam, em 1947, suportar esta situação. Como não podiam tratar diretamente com as grandes companhias britânicas, procuraram negociar com os indianos e outros intermediários. Assim marcharam em direção às debulhadoras de algodão pertencentes aos indianos e fizeram manifestações defronte do palácio do Kabaka, chefe hereditário que muitas vezes não passava de um agente britânico no Uganda.
Para assegurar a manutenção da taxa de exploração no ponto mais alto, as companhias de comércio acharam conveniente formar associações, que fixavam o preço ao trabalhador africano, reduzindo-o ao mínimo. Acessoriamente, intervinham noutros setores da vida econômica, de modo a aumentar a mais-valia. Em Marrocos, para darmos um exemplo, a Compagnie General du Maroc possuía grandes fazendas, criação de gado, carpintarias, minas, pescarias, estradas de ferro, portos, estações de abastecimento de energia. As companhias gigantes como a C.F.A.O. e a U.A.C. também tinham seus tentáculos. Os interesses da C.F.A.O iam desde plantações de amendoim até ações na empresa de navegação Fabre & Frassinet. No Gana e na Nigéria, a U.A.C. estava por todo lado. Controlava o comércio a grosso e a retalho, tinha fábricas de manteiga, de sabão, oficinas, rebocadores, navios costeiros, etc. Algumas dessas atividades exploravam diretamente o trabalhador africano, mas em todos os casos era da força de trabalho dos povos de África que provinham os tão almejados lucros.
Por vezes, as companhias que compravam os produtos agrícolas encarregavam-se da sua transformação. É o caso dos primeiros fabricantes ingleses de produtos derivados do cacau e do chocolate, a Cadbury e a Fry, que compravam esses produtos na costa ocidental de África. A Brooke Bond cultivava e exportava o chá. Muitas companhias comerciais de Marselha, Bordeaux e Liverpool também transformavam na metrópole produtos como o sabão e a margarina. A U.A.C. dedicava-se completamente a essa atividade transformadora, enquanto o poderoso grupo Lesiur comprava em África matérias necessárias à produção em França de óleos e gorduras. Podemos, todavia, diferenciar as operações comerciais das industriais. As últimas representavam a fase final de um longo processo de exploração da força de trabalho dos camponeses africanos, e era, em certos aspectos, a fase mais prejudicial.
Para a produção de uma colheita, os camponeses tinham de trabalhar arduamente. O preço dessas longas horas de trabalho era representado pelo preço do produto. Se tivermos em conta que os produtos primários de África sempre foram adquiridos a baixos preços, compreenderemos perfeitamente que os compradores dessas matérias-primas se entregavam a uma exploração desenfreada dos camponeses.
Podemos ilustrar esta conclusão através do exemplo do algodão, uma das culturas mais espalhadas em África. A produção do camponês do Uganda seguia para uma fábrica inglesa em Lancashire ou então para uma localizada na Índia, pertencente aos britânicos. O dono da fábrica de Lancashire, ainda que pagasse o mínimo possível aos operários, via-se limitado, na exploração, por vários fatores, ao passo que a exploração da força de trabalho do camponês ugandês era ilimitada, devido à ação do poder colonial. Assim, os ugandeses mourejavam por uma ração. Além disso, o preço de uma camisa de algodão, fabricada na Inglaterra e exportada para o Uganda, era tão elevado que raramente se tornava acessível ao camponês que tinha cultivado esse mesmo algodão.
A diferença entre os preços das exportações africanas de matérias-primas e os dos produtos manufaturados importados, constituía uma forma de troca desigual. Essa desigualdade de troca deteriorou-se pelo período colonial. Em 1939, apenas se podia comprar 60% das mercadorias, que pelo mesmo preço, eram adquiridas na década de 1870-1880, antes do domínio colonial. Em 1960, o conjunto das mercadorias europeias adquiríveis com a mesma quantidade de matérias-primas africanas decresceu ainda mais. Não havia lei econômica que justificasse os preços tão reduzidos a que eram transacionados os produtos primários. Paradoxalmente, países industrializados vendiam certos produtos primários, como madeiras e trigo, por preços muito elevados. Isto apenas se explica pelo fato de a troca desigual ser imposta aos africanos pela supremacia política e militar dos colonizadores, tal como acontece com certos tratados internacionais impostos a pequenos Estados, como os da América Latina, pelo imperialismo estadunidense.
A natureza desigual do comércio entre as metrópoles e as colônias espelhava-se no conceito de “mercados de proteção”, que significava que até um produtor metropolitano deficiente podia encontrar um mercado garantido na colônia onde a sua classe detivesse o poder político. Por outro lado, tal como já se tinha verificado amiúde durante o período pré-colonial, os fabricantes europeus enviavam produtos que na metrópole seriam considerados de inferior qualidade, como foi o caso dos têxteis exportados. Os agricultores europeus também estavam nesse esquema, vendendo manteiga barata, enquanto os pescadores escandinavos se desfaziam das sobras de bacalhau. Não sendo um mercado com grande poder de absorção para os produtos metropolitanos, especialmente se compararmos com outros continentes, a África tinha o atrativo de os preços de compra e de venda serem impostos pelos capitalistas europeus, o que lhes permitia fácil acesso à mais-valia africana, contrariamente ao que aconteceria caso os africanos estivessem em posição de igualdade, no estabelecimento dos preços.
c) Os serviços bancários e as companhias marítimas
As companhias comerciais e os interesses industriais não esgotaram os canais de sucção da mais-valia. As companhias marítimas ocupavam um lugar importante, que não se deve subestimar. As maiores companhias marítima pertenciam, naturalmente, às potências colonialistas, em especial à Grã-Bretanha. Eram largamente soberanas, sendo muito apreciadas pelos governos que as encaravam como fonte de superlucros, estimuladoras da indústria e do comércio, transportadoras de correio e colaboradoras da marinha, no tempo de guerra. Os camponeses africanos não tinham possibilidades de estabelecer qualquer controle sobre as tabelas dos fretes, muito mais elevadas do que as estabelecidas pelas companhias que operavam noutras paragens. O preço de uma tonelada de farinha, enviada de Liverpool para a África Ocidental, era de $ 140, enquanto da mesma cidade para a América do Norte (portanto, a distância semelhante) era de $ 28. As taxas dos fretes variavam naturalmente com o volume de carga, mas o preço de $ 200 para o cacau, fixado no princípio do século quando as exportações ainda eram pequenas, não diminuiu com o aumento da carga. As companhias marítimas cobravam cerca de $ 1100 por toneladas pelo café transportado do Quênia para New York, nos anos 50. Teoricamente, era o comerciante que pagava os fretes, mas em termos práticos quem suportava esse custo era o camponês, dado que o comerciante pagava com base nos lucros realizados pela exploração do camponês. Os fazendeiros brancos, por seu turno, pagavam também esses preços após a exploração dos assalariados africanos.
As companhias marítimas obtinham uma elevada taxa de lucro por um processo semelhante ao das associações comerciais. Formaram as chamadas Conference Lines, que autorizavam os armadores a dividir as cargas na melhor base possível. Os lucros eram enormes e a especulação atingiu um grau tão elevado que até os comerciantes começaram a protestar. De 1929 a 1931, a U.A.C. (apoiada pela Unilever) envolveu-se em uma guerra econômica com a West Africa Line e a German West Africa Line. Nessa ocasião, o comércio monopolista obteve uma vitória sobre o monopólio das companhias marítimas; mas tratava-se de uma luta entre comadres, enquanto os explorados se viam em uma situação sempre pior. Com efeito, o grande prejudicado era o camponês africano, pois quer os comerciantes quer os armadores aplainavam as divergências descendo o preço dos produtos primários, comprados aos africanos.
Na penumbra da cena colonial estavam os bancos, as companhias de seguros e outros financistas. Dissemos “na penumbra”, visto que o camponês nunca entrava diretamente em contato com tais instituições, não percebendo geralmente as suas funções de exploração. O camponês ou o trabalhador não tinham acesso ao crédito bancário devido a não oferecerem “segurança”, isto é, não terem “padrinhos”. Os bancos e os estabelecimentos financeiros somente operavam com os capitalistas, pois apenas estes podiam oferecer garantias aos banqueiros nos créditos a conceder. Na época imperialista, os banqueiros tornaram-se os aristocratas do mundo capitalista, aparecendo em primeiro plano. É fenomenal a massa de mais-valia produzida pelos trabalhadores e camponeses africanos que passou para os cofres dos banqueiros metropolitanos. Os lucros desses bancos foram muito mais elevados do que os das companhias mineiras, e cada novo investimento era uma fonte de alimentação dos frutos do trabalho africano. Além do mais, todos os investimentos nas colônias tinham, de fato, a participação dos grandes monopólios financeiros, visto que mesmo a menor companhia comercial estava intimamente ligada a um grande banco. Os lucros desses bancos foram muito mais elevados do que os das companhias mineiras, e cada novo investimento era fonte de alienação dos frutos do trabalho africano. Além do mais, todos os investimentos nas colônias tinham, de fato, a participação dos grandes monopólios financeiros, visto que mesmo a menor companhia comercial estava intimamente ligada a um grande banco. Os lucros dos investimentos coloniais eram incomparavelmente mais elevados dos que os do setor metropolitano, o que fazia com que os financeiros não largassem o bolo.
Durante os primeiros anos do Colonialismo, os bancos eram pequenos e relativamente independentes, em África. Isto acontecia, por exemplo, com o Banco do Senegal, formado em 1853, e com o Bank of British West Africa, que iniciou a sua atividade como ramo da companhia de navegação Elder Demster. Contudo, os grandes estabelecimentos bancários da Europa, que adquiriram a partir de 1880 certo controle sobre os territórios coloniais, arrancaram em força quando verificaram que o volume das transações capitalistas tornava justificável tal atividade. Em 1901, o Banque de Senegal transformou-se no Banque de l’Afrique Ocidental (B.A.O), adquirindo ligações com o poderoso Banco da Indochina que por sua vez era uma criação especial de vários banqueiros franceses. Em 1924, o Banque Comerciale de l’Afrique (B.C.A.) apareceu nos territórios franceses, ligado com o Crédit Lyonnais e com o B.N.C.I. A essa altura, o Bank of British West Africa era financeiramente apoiado pelos Lloyds Bank, Westminster Bank, Standard Bank e National Provincial Bank, todos de Inglaterra. O Barclays, outro importante banco inglês, atuou diretamente em África. Assim, comprou o Colonial Bank e instalou-se com designação de Barclays DCO (isto é, Domínio Colonial).
O Bank of British West Africa (que se tornou em 1957 no Bank of West Africa) e o Barclays tinham parte de leão nas operações bancárias efetuadas na África Ocidental britânica, do mesmo modo que o Bao e o BCA partilhavam as colônias ocidentais francesas e a África Equatorial. Em 1949, verificou-se também na África Ocidental uma fusão dos capitais bancários franceses e britânicos: a formação da British and French West Africa Bank. A exploração francesa e belga também se estendia à esfera financeira, visto que a Société Generale tinha capitais dos dois países. Este poderoso grupo apoiava bancos na África francesa e no Congo. Os bancos internacionais como o Barclays serviam também outros poderes coloniais com pouca força econômica, que viam assim uma forma de aumentar o dinamismo dos bancos nacionais. Na Líbia operavam o Banco di Roma e o Banco di Napoli, enquanto o Banco Ultramarino era o mais ativo nos territórios coloniais portugueses.
Na África Austral, o banco mais dinâmico era o Standard Bank of South Africa Ltd., fundado em 1862 na colônia do Cabo pelos donos das casas comerciais que tinham estreitas relações com Londres. Com sede em Londres, este banco fez fortuna financiando as explorações do ouro e diamantes, e por meio da gestão da pilhagem de Cecil Rhodes e De Beers. Em 1895, o Standard Bank estendia-se pela Bechuanalândia, Rodésia e Moçambique, sendo o segundo banco britânico a atuar na África Oriental britânica. Os lucros obtidos eram formidáveis. Em um livro editado oficialmente pelo Standard Bank, o escritor concluía, com modéstia, o seguinte: “Neste livro temos prestado pouca atenção às atividades do Standard Bank, cujo notável êxito financeiro resulta, inevitavelmente, do esforço desenvolvido pela sobrevivência”.
Em 1960, o Standard Bank teve um lucro líquido de £ 1.181.000 e distribuiu 14 % dessa quantia aos acionistas, muitos deles vivendo na Europa ou então na África do Sul, enquanto o povo trabalhador da África Oriental nada via. Por outro lado, os bancos europeus transferiram as reservas das filiais em África para a sedes de Londres, com o fim de investir no mercado monetário londrino. Esta era uma forma rápida de expatriação da mais-valia africana para as metrópoles.
O primeiro banco estabelecido na África Oriental, em meados de 1880-1890, foi uma filial de um banco britânico que atuava na Índia. Batizou-se mais tarde como National & Grinflays. Os alemães fundavam no vizinho Tanganica, em 1905, o German East African Bank, mas os britânicos obtiveram o monopólio quase absoluto das atividades bancárias na África Oriental, após a Primeira Guerra Mundial. No conjunto, existiam durante o período colonial 9 bancos estrangeiros na África Oriental, dos quais os três maiores eram o National & Grindlays, o Standard Bank e o Barclays.
A África Oriental oferece-nos um exemplo ilustrativo do modo como os bancos estrangeiros atuaram para espoliar as riquezas de África. A grande parte dos serviços bancários e financeiros eram prestados aos colonos brancos, que estavam completamente à vontade.
Quando estes se sentiram inquietos nos finais do período colonial, apressaram-se a avaliar o seu dinheiro para a Grã-Bretanha decidiu em 1960 conceder autonomia ao Quênia, os brancos que viviam no Tanganica transferiram, por motivos de “segurança”, uma soma de cerca de 160 mil contos para Londres. Essa quantia, tal como as remetidas pelos brancos, representava a exploração da força de trabalho dos africanos.
d) O papel da administração colonial na exploração
O Estado colonial também participou diretamente na exploração econômica e no empobrecimento de África, adicionalmente às companhias privadas. Nos países colonizadores, os Ministérios das Colônias coordenavam estreitamente a atividade dos governadores na África, no desempenho de certo número de funções. Eis a numeração das principais: a) proteção dos interesses nacionais contra a competição dos outros capitalistas; b) arbitrar os conflitos entre os próprios capitalistas; c) garantir condições óptimas para a exploração da força de trabalho dos africanos pelas companhias privadas.
A última função enunciada era, sem dúvida, a mais crucial. Por essa razão, os governos coloniais estavam sempre a levantar a tecla da “manutenção da lei e da ordem”, ou seja, a manutenção das excelentes condições para a expansão do Capitalismo e a pilhagem de África. A imposição de impostos surge nesta perspectiva.
Um dos principais objetivos do sistema tributário colonial era o fortalecimento das verbas necessárias à boa administração da colônia, enquanto um objeto de exploração. Os colonizadores europeus asseguravam o financiamento pelos africanos do sustento dos governadores e da polícia, cuja função se resumia, afinal, em os oprimir e impedir de manifestar o mais leve sinal de descontentamento. Os impostos e os direitos alfandegários foram aplicados no século XIX com o fim de permitir aos poderes coloniais cobrir as despesas das forças armadas enviadas na conquista da África. Com efeito, os governos coloniais não gastaram sequer um tostão nas colônias. Todas as despesas eram cobertas pela exploração da força de trabalho e dos recursos naturais do continente; a manutenção da máquina administrativa colonial era a forma de despender o rendimento produzido pela força de trabalho dos africanos. Neste aspecto, as colônias francesas eram vítimas especiais. Particularmente desde 1921, rendimentos locais fornecidos pelos impostos cobriam as despesas, formando ainda um fundo de reserva.
Após a constituição da polícia, exército, serviços administrativos e judiciais no solo africano, os poderes coloniais ficaram em posição de intervir muito mais diretamente do que anteriormente na vida econômica do povo. Um dos maiores problemas em África, sob uma perspectiva capitalista, foi induzir os africanos a tornarem-se assalariados ou produtores autônomos. Em algumas regiões, como na África Ocidental, os africanos tinham-se prendido tanto às manufaturas europeias, durante o período inicial de comércio, que, voluntariamente, estavam dispostos a percorrer grandes distâncias para participarem na economia monetária colonial. Mas esta não foi a regra geral. Muitas vezes, os africanos não encontravam incentivos monetários suficientes para modificarem seu modo de vida, que se processaria necessariamente caso se tornassem trabalhadores ou produtores agrícolas. Nestes casos, o Estado colonial intervinha, utilizando a lei, os impostos e a força ostensiva para obrigar africanos a trilharem um caminho favorável aos lucros capitalistas.
Quando poderes coloniais expropriaram as terras dos africanos, alcançaram simultaneamente dois objetivos: satisfazerem os próprios cidadãos (que desejavam concessões mineiras ou a terra para plantações) e criaram as condições necessárias para que os africanos, despojados das terras, tivessem de trabalhar não apenas para pagar impostos, mas principalmente para poderem sobreviver. Em regiões de fixação de colonos, como no Quênia e na Rodésia, os governos coloniais também impediam os africanos de cultivar a terra, de modo a que a sua força de trabalho estivesse diretamente disponível para os brancos. O coronel Grogan, colono branco no Quênia, confessou-o grosseiramente quando, ao se referir aos Kibuyus, afirmou: “Nós roubamos as suas terras. Agora, temos de roubar os braços. O trabalho compulsivo é o corolário da nossa ocupação neste país”.
Naquelas regiões onde a terra ainda pertencia aos africanos, a administração colonial obrigava os africanos a produzirem colheitas, por mais baixos que fossem os preços. A técnica favorita era a aplicação de impostos. Foram aplicados impostos em dinheiro sobre numerosos objetos: gado, casas e sobre o próprio povo. O dinheiro necessário à liquidação tributária era obtido pelo cultivo de produtos agrícolas, pelo trabalho nas fazendas dos europeus ou minas. A África Equatorial francesa ilustra-nos o modo de atuação do colonialismo. Na região, oficiais franceses proibiram o povo Mandja (agora na República do Congo) de caçar, de modo a encaminhá-los para as plantações de algodão. Os franceses aplicaram esta proibição, ainda que na área houvesse pouco gado e a caça fosse o principal recurso na alimentação do povo.
Finalmente, quando tudo isso falhava, os poderes coloniais recorriam frequentemente ao trabalho forçado, com base em preceitos legais, visto que tudo o que a administração colonial decidia fazer era “legal”. As leis e regulamentos que forçavam os camponeses da África Oriental inglesa a cultivarem produtos como o algodão e o amendoim em quantidades superiores a um mínimo obrigatório, eram com efeito medidas coercivas do Estado colonial, ainda que formalmente não fosse enquadrada na classificação de “trabalho forçado”.
A forma mais simples de trabalho forçado consistia na realização de “trabalhos públicos” – construção de mansões para os governadores, aquartelamentos para as tropas e residências para oficiais. A construção de estradas, caminhos de ferro e portos, elementos da infraestrutura necessária aos investimentos capitalistas, absorvia uma boa parte desse trabalho forçado. Apontando apenas para o exemplo da colônia britânica da Serra Leoa, verificamos que a construção das estradas de ferro, iniciada nos finais do século XIX, utilizou o trabalho forçado de milhares de camponeses compulsivamente retirados das aldeias onde viviam. O trabalho árduo e as condições desumanas levaram à morte um grande número desses trabalhadores. Nos territórios britânicos, esta espécie de trabalho forçado (incluindo o trabalho das crianças) estava de tal forma espalhado que as autoridades puderam dar-se ao “luxo” de decretar em 1923 o “Native Autority Ordinance”, restringindo o emprego do trabalho forçado aos caminhos de ferro e construção de estradas. Encontrava-se sempre maneira de contornar este tipo de legislação “humanitárias”. Em 1930, todas as potências coloniais, assinaram a “Convenção do Trabalho Forçado”, mas raramente a seguiram nos anos subsequentes.
O Governo francês utilizava um método astucioso para obter trabalho “voluntário”: primeiro, pedia aos africanos que se alistassem no exército francês, e depois servia-se deles como trabalhadores não remunerados. Em vastas regiões do Sudão francês e da África Equatorial francesa vigoravam, extensivamente, regulamentos de trabalho forçado semelhantes. Nessas áreas, devido ao fato de as plantações não estarem bem estruturadas, o principal método para obtenção da mais-valia consistia em obrigar as populações a trabalharem em plantações ou culturas situadas mais perto da costa. O Alto Volta, o Chade e o Congo Brazzaville foram, sob o colonialismo, grandes fornecedores de trabalho forçado. Em 1921, foi iniciada a construção do caminho de ferro de Brazzaville para Ponta Negra, que apenas terminou em 1933. Em cada ano de construção, cerca de 10 mil “voluntários” africanos que viviam anteriormente em locais por vezes distantes mais de mil quilômetros, trabalharam em condições tão esgotantes que tinham de ser anualmente “renovados”, visto que por ano morriam de fome e doenças cerca de 25%!
Para além do fato de os “trabalhos públicos” terem um valor direto para os capitalistas, o governo colonial ajudava também os capitalistas privados lhes fornecendo trabalhadores recrutados à força. Isto aconteceu em particular nos primeiros anos do colonialismo, mas continuou a suceder em medida variável até a Segunda Guerra Mundial, perdurando mesmo em certas regiões até no final do colonialismo. Nos territórios britânicos renovou-se tal prática durante a depressão econômica de 1929-1933 e durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o trabalhado forçado foi reintroduzido no Quênia e no Tanganica para permitir o funcionamento normal das fazendas dos colonos. Na Nigéria, foram as companhias de estanho que beneficiaram especialmente da legislação sobre o trabalho forçado, que lhes permitia o pagamento de $ 2 por dia aos trabalhadores, além das rações para alimentação. Durante grande parte do período colonial, o Governo francês prestou a mesma espécie de serviço às grandes companhias de madeiras, que tinham extensas concessões no Gabão e na Costa do Marfim.
Os regimes coloniais de Portugal e Bélgica foram os mais descarados a obrigar diretamente os africanos a trabalharem para os capitalistas privados, em condições equivalentes às da escravidão. No Congo, o rei Leopoldo teve a honra de iniciar, no século anterior, o brutal trabalho forçado. Foram tantos os congoleses assassinados e mutilados pelos oficiais e pela polícia de Leopoldo que, mesmo dentro de panorama geral semelhante, os regimes europeus não deixaram de desaprovar os “excessos” cometidos. Quando o rei entregou o território ao Governo belga, em 1908, já tinha realizado uma elevada fortuna; e o Governo belga para o seu turno, mas refreou a intensidade da exploração no Congo.
Os portugueses, que tiveram no tráfico de escravos o pior papel, foram também por várias vezes condenados pela opinião pública internacional. Uma característica peculiar do Colonialismo português foi a de ter servido de fornecedor de trabalho forçado não só para os seus próprios cidadãos como também para outros capitalistas fora do limite dos territórios coloniais portugueses. Para as minas de África do Sul seguia um grande contingente de angolanos e moçambicanos, que trabalhavam para sobreviver, enquanto capitalistas de África do Sul pagavam uma certa soma ao Governo português por cada trabalhador enviado.
No exemplo anterior, os portugueses cooperavam com os capitalistas de outras nacionalidades na maximização da exploração da força de trabalho africana. Durante o período colonial, registraram-se cooperações deste tipo, bem como de competição entre os poderes coloniais metropolitanos. Em termos gerais, o governo europeu devia intervir quando os lucros da sua burguesia nacional estivessem a ser atingidos pela atividade de outras nações. Vendo bem, o único propósito em estabelecer administrações coloniais na África era garantir a proteção dos interesses econômicos dos monopólios nacionais. Deste modo, o Governo belga legislou no sentido de assegurar que a carga entre a Bélgica e o Congo fosse principalmente transportada pelas companhias marítimas belga; e o Governo francês estabeleceu elevadas taxas alfandegárias para os amendoins transportados para a França por navios estrangeiros, o que na prática era um meio de assegurar que esse transporte fosse efetuado somente por barcos franceses. No essencial, essas medidas faziam variar a mais-valia produzida, em detrimento de um ou outro. Mas isso também queria dizer que o grau total de exploração era também maior, pois se tivesse sido permitida a concorrência entre europeus, teria descido o custo dos serviços e subido o preço pago pelos produtos agrícolas.
Nos casos em que a “mãe-pátria” era um território atrasado, os africanos eram ainda mais prejudicados com a exclusividade comercial com a metrópole. Nas colônias portuguesas, camponeses africanos obtinham preços mais baixos pela produção agrícola, pagando também quantias mais elevadas pelos artigos importados. Mesmo a Grã-Bretanha, a maior potência colonialista em África, também se viu a braços com a concorrência dos capitalistas mais dinâmicos da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão. Os comerciantes e industriais britânicos pediram ao governo que colocasse barreiras alfandegárias contra essa competição. Por exemplo, a exportação de tecidos japoneses para a África Oriental inglesa passou de 25 milhões de metros, em 1927, para 63 milhões em 1933, o que levou Walter Runciman, presidente da Junta de Comércio britânica, a pedir ao Parlamento a imposição de pesadas taxas às mercadorias japonesas exportadas para as colônias britânicas de África. Isto significou que os africanos tiveram de pagar preços mais elevados pelos tecidos, visto que naturalmente as fibras britânicas eram mais caras, o que conduziu a uma maior alienação dos frutos da força de trabalho dos africanos.
A atuação das “Juntas de Comércio de Produtos” fornece-nos uma perfeita ilustração da identidade de interesse na movimentação registrada em torno do cacau, na Costa do Ouro. Com efeito, em 1937, os plantadores de cacau caso o preço não fosse aumentado. Aparentemente, os africanos obtiveram resultados favoráveis quando o Governo britânico concordou em formar uma “Junta de Comércio”, com a função de comprar o cacau aos camponeses, eliminando assim os grandes interesses como a U.A.C. e a Cadbury que, até então, tinham sido os compradores. Assim, foi constituída a West African Cocoa Control Board, em 1938, mas o Governo britânico utilizou-a como uma capa para esconder os capitalistas e permitir-lhes a continuação dos lucros fabulosos.
Teoricamente, uma “Junta de Comércio” devia pagar um preço razoável pela cultura dos camponeses, vendendo-a depois à Europa de modo a conservar lucro para o melhoramento da agricultura e para pagar aos camponeses preços estáveis, caso os preços de mercado mundial baixassem. Na prática, as “Juntas de Comércio” pagavam um baixo preço, fixado por muitos anos, em uma altura em que no mercado mundial subiam os preços do cacau! Os benefícios não iam assim para os africanos, como a “teoria” estipulava, mas sim para o próprio Governo britânico e as companhias privadas. Grandes companhias como a U.A.C. e a John Holt recebiam cotas que podiam preencher, à confiança total das “Juntas”. Estas, enquanto agentes governamentais, não estavam expostas a ataques diretos, sendo os lucros realizados com mais segurança.
Esta ideia de constituição de “Juntas de Comércio” foi apoiada pelos círculos dirigentes da Grã-Bretanha porque, tendo-se desencadeado a guerra precisamente nessa altura, o Governo britânico estava ansioso por tomar medidas que assegurassem quantidades mínimas, no momento necessário, de certos produtos coloniais, dado o número limitado de navios dedicados à atividade comercial, durante a guerra. Também estava ansioso por salvar os capitalistas privados, duramente afetados pelos acontecimentos relacionados com a guerra. Por exemplo, o sisal da África Oriental tornou-se de importância vital para a Grã-Bretanha e os aliados na guerra, após o corte feito pelos japoneses ao abastecimento de fibras das Filipinas e das Índias Orientais Holandesas. Na verdade, mesmo antes de a guerra se ter iniciado já o sisal era comprado a granel pelo Governo Britânico, com o fim de ajudar os fazendeiros europeus da África Oriental que tinham perdido os mercados da Alemanha e de outras partes da Europa. Do mesmo modo, as oleaginosas (como os produtos da palmeira e os amendoins) eram comparados por uma “Junta de Comércio” constituída em setembro de 1939, na previsão da falta de manteiga e óleos.
Quanto às colheitas dos camponeses, estas eram compradas pelas “Juntas” a preços muito inferiores aos praticados no mercado mundial. Por exemplo, a Junta de Comércio da África Ocidental pagava $ 960 aos nigerianos pela tonelada do óleo de palma, em 1946, e vendia-a por $ 5.300, através do Ministério da Agricultura, preço mais próximo da média no mercado mundial. Os amendoins eram adquiridos pelas “Juntas” a $ 900 por tonelada e posteriormente vendidos na Grã-Bretanha por $ 6.600. Ainda por cima a administração colonial aplicava taxas de exportação às transações das “Juntas”, o que era um imposto indireto sobre os camponeses. Esta situação atingiu um ponto tal, que muitos camponeses tentaram sair da “proteção” das “Juntas”. Na Serra Leoa, o preço do café era tão baixo, em 1952, que produtores escoavam as colheitas para os territórios franceses vizinhos. Mais ou menos na mesma altura, camponeses nigerianos trocavam o óleo de palma pela recolha da borracha ou pelo corte de madeiras, produtos que não estavam sob alçada das “Juntas”.
Se se aceitar que o governo é sempre instrumento de uma determinada classe, compreende-se perfeitamente que os governos coloniais estivessem em conluio com os capitalistas na sucção da mais-valia para a Europa. Mas, mesmo no caso de não se aceitar esta premissa (marxista), seria impossível ignorar a evidência que constitui o fato de as administrações coloniais trabalharem como comissões de total defesa dos interesses dos grandes capitalistas. Os governadores das colônias tinham de ouvir os representantes locais e os gerentes das companhias. Havia também representantes das companhias que estendiam a sua influência simultaneamente por várias colônias. Antes da Primeira Guerra Mundial, o indivíduo como mais poderes na África Ocidental Britânica era Sir Alfred Jones – presidente da Elder Dempster Lines, presidente do Banj of West Africa e presidente da British Cotton-Growing Association. Nos últimos anos da década de 40, o governador da África Ocidental Francesa empenhava-se particularmente em agradar a Marc Rucart, pessoa com grandes interesses em várias companhias de comércio francesas. Exemplos semelhantes poderiam ser citados para cada colônia, ao longo da sua história, ainda que em algumas delas a influência dos colonos brancos chegasse a ser maior que a dos homens de negócios da metrópole.
Os acionistas europeus das companhias dominavam não só o Parlamento como também a própria administração. O presidente da Junta de Comércio do Cacau, integrada no Ministério da Agricultura, não era outro senão John Cadbury, diretor da Cadbury Brothers, que na altura participava nas associações exploradas dos cultivadores do cacau na África Ocidental. Anteriores empregados da Unilever arranjaram boas posições no departamento de óleos e gorduras do Ministério da Agricultura, continuando a receber “gratificações” da Unilever! O departamento de óleos e gorduras controlava a distribuição das quotas das compras feitas pelas Juntas de Comércio à Associação de Comerciantes de África Ocidental, dominada pela U.A.C., filial da Unilever.
Não causa admiração que o Ministério da Agricultura enviasse uma instrução a um proeminente comerciante libanês, na qual o “aconselhava” a assinar um contrato imposto pela U.A.C. Não causa admiração que o governo ajudasse as companhias na manutenção dos baixos preços em África e assegurasse o trabalho forçado nas áreas necessárias. Não causa admiração que a Unilever vendesse sabão, margarina etc., a preços lucrativos, dentro de um mercado controlado pelo Governo britânico.
Claro que os governos metropolitanos asseguravam também a entrada nos cofres do Estado de uma certa parte da mais-valia colonial. Todos tinham várias espécies de investimentos diretos nas companhias capitalistas. O Governo belga investiu na exploração mineira, enquanto o Governo português era acionista da Companhia dos Diamantes de Angola. O Governo francês sempre se esforçou por participar no mercado financeiro. Quando os bancos coloniais estavam em dificuldades, podiam contar com o socorro do Governo francês, que comprava uma parte das ações. O Governo britânico talvez tenha sido o que menos procurou envolver-se diretamente nos negócios das companhias, mas o fez nas minas da Nigéria Oriental, do mesmo modo que no caminhos de ferro.
As Juntas de Comércio de Produtos ajudaram o poder colonizador a controlar as colheitas. Vemos que a Junta de Comércio do Cacau vendia este produto, por um preço baixo, ao Ministério Britânico da Agricultura; o ministério, por sua vez, vendia-o aos fabricantes britânicos, realizando um lucro que atingiu, em alguns anos, 600 milhões de escudos. A operação mais lucrativa da referida “Junta” era, porém, a venda a preços muito elevados aos Estados Unidos, com um grande mercado. Esses lucros nunca iam parar ao camponês africano, mas serviam para o comércio britânico obter preciosos dólares.
A partir de 1943, a Grã-Bretanha e os Estado Unidos empenharam-se naquilo que poderíamos designar por “reciprocidade de créditos”. Isto é, naquela situação de guerra os créditos fornecidos pelos Estados Unidos à Grã-Bretanha eram parcialmente pagos através das matérias-primas transportadas das colônias britânicas para os Estados Unidos. Nesse contexto, a madeira e a borracha da Malásia ocupavam um lugar importante, enquanto a África fornecia uma larga variedade de produtos, quer minerais quer agrícolas. A seguir à madeira e à borracha, o café estava na terceira posição como fornecedor de dólares. Assim, em 1947, o cacau de África Ocidental trouxe cerca de 100 milhões de dólares para a balança de pagamentos britânica. Além disso, a África do Sul detinha quase completamente a produção de diamantes no mundo, vendendo-os aos Estados Unidos e passando à Grã-Bretanha os dólares necessários. Em 1946, Harry F. Oppenheimer declarou aos colegas diretores da De Beers Consolidated Mines que “as vendas dos diamantes em bruto tinham fornecido 300 milhões de dólares à Grã-Bretanha, durante a guerra”.
O governo colonial efetuava as maiores manipulações no campo da circulação monetária, para garantir a transferência das riquezas de África para os cofres metropolitanos do Estado. Na esfera colonial britânica, as moedas e notas eram inicialmente emitidas por bancos privados. Depois, a função foi confiada ao West African Currency Board e ao East African Currency Board, fundados respectivamente em 1911 e 1919. A circulação emitida para as colônias por tais departamentos tinha de ser coberta por reservas em esterlino, provenientes do dinheiro ganho em África. O sistema funcionava do seguinte modo: quando uma colônia tinha excedentes de divisas estrangeiras (principalmente) nas exportações, esses excedentes eram convertidos, na Grã-Bretanha, em libras esterlinas. Era emitida para circulação uma quantia equivalente de moeda para a África Ocidental ou Oriental, enquanto as libras esterlinas eram investidas pelo Governo britânico, trazendo lucro ainda maior para a Grã-Bretanha. Os bancos comerciais trabalhavam em íntima colaboração com o governo metropolitano e com os departamentos monetários para fazerem funcionar o sistema. Estabeleceram conjuntamente uma complexa rede financeira com o fim comum de enriquecer a Europa à custa de África.
A contribuição das colônias para as reservas em esterlina constituiu uma oferta para o tesouro britânico, não recebendo as colônias quaisquer benefícios por tal. Nos finais dos anos 50, a reserva em esterlinas de uma pequena colônia como a Serra Leoa atingiria o montante de £ 60 milhões, oriundos da venda do cacau e de minérios da Costa do Ouro. O Egito e a Síria também foram grandes “contribuintes” da Grã-Bretanha. Em 1945, a contribuição total da África para a balança britânica foi de £ 446 milhões, elevando-se esse número, dez anos depois, para £ 1446 milhões – mais de metade da reserva total em ouro e dólares da Grã-Bretanha e da Commonwealth, que atingiria então £ 2120 milhões. Pessoas como Arthur Creechjones e Oliver Lyttleton, grandes figuras na orientação da política colonial britânica, admitiram que a Grã-Bretanha estava a viver, nos primeiros anos da década de 50, das receitas em dólares das colônias.
O Governo britânico foi excedido pelo seu homólogo belga na apropriação de rendimentos das colônias, especialmente durante e depois da última guerra. Após a ocupação da Bélgica pelos alemães, foi formado em Londres um governo no exílio. Godding, secretário colonial desse regime exilado, admitiu que: “Durante a guerra, o Congo conseguiu financiar todas despesas do Governo belga em Londres, incluso serviços diplomáticos, bem como custos das nossas forças armadas na Europa e na África, no total de 2400 milhões de escudos. De fato, graças aos recursos do Congo, o Governo belga em Londres não necessitou pedir emprestado um único xelim ou solar, permanecendo intacta a reserva belga em ouro”.
O Banco Nacional da Bélgica recebeu, desde a guerra, excedentes em divisas estrangeiras provenientes do Congo. Além da pilhagem efetuada pelos capitalistas privados sobre as riquezas do Congo, o Governo belga também beneficiava diretamente com a torrente dos milhões de francos por ano.
Apreciarmos o colonialismo francês nesta matéria equivaleria a repetir as observações efetuadas a respeito dos britânicos e dos belgas. A Guiné era considerada uma colônia “pobre”, mas em 1952 rendeu à França um milhar de milhões de francos (velhos) em divisas estrangeiras, obtidos a partir da bauxita, café e bananas. As técnicas financeiras francesas eram ligeiramente diferentes das de outros poderes coloniais. A França tendia a utilizar com maior intensidade os bancos comerciais, preocupando-se pouco com departamentos monetários. Também afetou mais duramente os africanos fazendo levas para fins militares. O Governo francês vestia africanos com uniformes militares franceses, utilizando-os como carne para o canhão na luta contra outros africanos, contra outros povos colonizados como os vietnamitas e também nas guerras na Europa. Orçamentos coloniais tinham que suportar as despesas destes soldados enviados para a morte, mas caso regressassem com vida recebiam pensões fornecidas pelas reservas africanas.
Em resumo, o colonialismo significou uma grande intensificação da exploração na África – em um grau muito superior ao existente nas sociedades africanas anteriores. Ao mesmo tempo, o seu objetivo central era a exportação massiva da mais-valia.
Da obra “Como a Europa subdesenvolveu a África” de Walter Rodney



















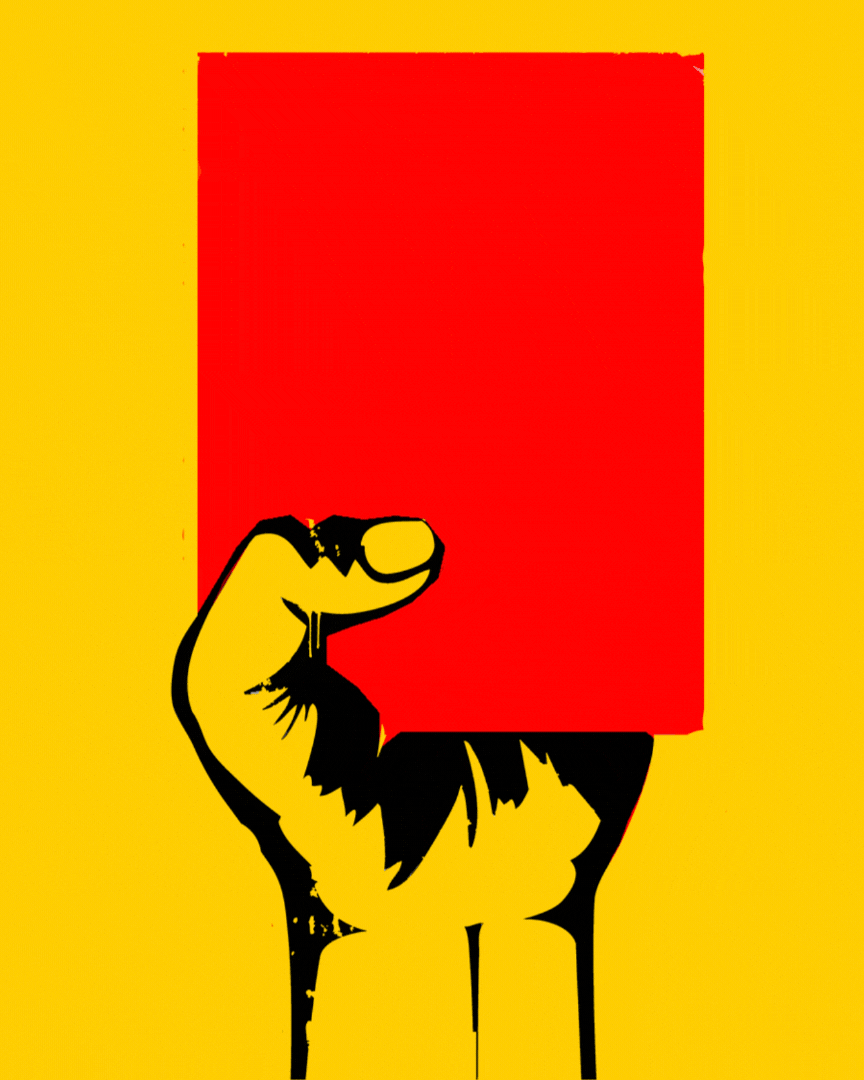
.png)
































































































































































Comments