Engels: "O Papel da Violência na História"
- NOVACULTURA.info

- 2 de abr. de 2024
- 85 min de leitura

Apliquemos agora a nossa teoria à história alemã de hoje e à sua prática da violência pelo sangue e pelo ferro. Daí veremos com clareza por que teve que ter sucesso, temporariamente, a política de sangue e ferro e por que tem ela que fracassar no final.
O Congresso de Viena, em 1815, tinha repartido e vendido a Europa ao desbarato de uma tal maneira que ficava clara perante o mundo inteiro a incapacidade total dos potentados e homens de Estado. A guerra geral dos povos contra Napoleão foi a reação do sentimento nacional espezinhado em todos os povos por Napoleão. Em agradecimento por isso, os príncipes e diplomatas do Congresso de Viena espezinharam ainda com mais desprezo esse sentimento nacional. A mais pequena dinastia valia mais do que o maior povo. A Alemanha e a Itália foram de novo fragmentadas em pequenos Estados, a Polônia foi dividida pela quarta vez, a Hungria permaneceu subjugada. E não se pode dizer, sequer, que acontecia uma injustiça aos povos, pois por que se deixaram eles ficar e por que saudaram no czar russo(1*) o seu libertador?
Mas isso não podia durar. Desde o fim da Idade Média, a história trabalha para a constituição da Europa a partir de grandes Estados nacionais. Só tais Estados são a normal organização política da burguesia dominante europeia e são, do mesmo modo, condição prévia indispensável para o estabelecimento da cooperação internacional harmoniosa dos povos, sem a qual não pode existir a dominação do proletariado. Para assegurar a paz internacional, têm primeiramente de ser afastadas todas as fricções nacionais evitáveis, tem cada povo de ser independente e senhor na sua própria casa. Com o desenvolvimento do comércio, da agricultura, da indústria e, assim, com o poder social da burguesia, elevou-se por toda a parte o sentimento nacional, as nações fragmentadas e oprimidas exigiram autoridade e autonomia.
A revolução de 1848 estava, por isso, orientada em toda a parte, exceto na França, tanto para a satisfação das reivindicações nacionais como das de liberdade. Mas, por detrás da burguesia, vitoriosa no seu primeiro arranque, erguia-se já por toda a parte a figura ameaçadora do proletariado, que, na realidade, tinha conquistado a vitória e empurrado a burguesia para os braços dos adversários acabados de vencer — a reação monárquica, burocrática, semifeudal e militar, à qual a revolução sucumbiu em 1849. Na Hungria, onde isto não foi o caso, entraram os russos e esmagaram a revolução. Não contente com isso, o czar russo(2*) foi a Varsóvia e erigiu-se ali em árbitro da Europa. Nomeou Christian de Glücksburg, sua criatura dócil, sucessor ao trono da Dinamarca. Humilhou a Prússia como ela ainda nunca fora humilhada, ao proibir-lhe mesmo os mais fracos apetites de exploração dos esforços alemães para a unidade, ao forçá-la a restaurar o Parlamento Federal [Bundestag] e a submeter-se à Áustria. Todo o resultado da revolução parecia ser, assim, à primeira vista, o de que a Áustria e a Prússia eram governadas segundo forma constitucional, mas no velho espírito, e que o czar russo dominava a Europa mais do que antes.
Mas, na realidade, a revolução tinha fortemente despertado a burguesia também nos países desmembrados, e designadamente a da Alemanha, da velha rotina hereditária. A burguesia tinha conseguido uma participação, embora modesta, no poder político; e cada sucesso político da burguesia é explorado num avanço industrial. O “ano louco”, que se tinha felizmente deixado para trás, mostrou à burguesia que se tinha de pôr termo agora, de uma vez por todas, à velha letargia e sonolência. Na sequência da chuva de ouro californiana e australiana e de outras circunstâncias, deu-se uma extensão das ligações do mercado mundial e um avanço dos negócios como nunca antes acontecera; tratava-se de agarrar [a oportunidade] e de assegurar para si a sua quota-parte. Os começos da grande indústria, que surgiram desde 1830 e nomeadamente desde 1840 no Reno, na Saxônia, na Silésia, em Berlim e em cidades isoladas do Sul, eram agora rapidamente aperfeiçoados e alargados, a indústria doméstica dos distritos rurais estendia-se cada vez mais, era acelerada a construção dos caminhos-de-ferro e, com tudo isso, o enorme crescimento da emigração criou uma navegação a vapor transatlântica, alemã, que não necessitava de qualquer subvenção. Mais do que nunca anteriormente, negociantes alemães estabeleceram-se em todas as praças comerciais ultramarinas, tornaram-se intermediários de uma parte cada vez maior do comércio mundial e começaram pouco a pouco a ser intermediários na venda de produtos industriais, não só ingleses mas também alemães.
Contudo, o sistema alemão de pequenos Estados [deutsche Kleinstaaterei], com as suas múltiplas legislações diversas do comércio e dos ofícios, em breve se tinha de tornar numa insuportável grilheta para esta indústria em poderoso incremento e para o comércio a ela ligado. De poucas em poucas milhas um outro direito cambial, outras condições no desempenho de um ofício, por toda a parte, mas por toda a parte mesmo, outras chicanas, armadilhas burocráticas e fiscais, tantas vezes ainda barreiras corporativas, contra as quais de nada valia nenhuma concessão! Além disso, as muitas e diversas legislações locais(3*) e as limitações de estada, que tornavam impossível aos capitalistas lançar as forças de trabalho disponíveis, em número suficiente, nos pontos onde minério, carvão, força hidráulica e outros recursos naturais impunham o estabelecimento de empreendimentos industriais! A capacidade de explorar sem entraves a força de trabalho da pátria era a primeira condição do desenvolvimento industrial; mas por toda a parte onde o fabricante patriota concentrava operários de todos os confins, a polícia e a assistência aos pobres opunham-se ao estabelecimento dos recém-chegados. Um direito de cidadania alemão e a plena liberdade de circulação para todos os cidadãos do Império, uma legislação unificada do comércio e dos ofícios, já não eram fantasias patrióticas de estudantes exaltados, eram agora condições necessárias da vida da indústria.
Além disso, em cada Estado e Estadozinho, outro dinheiro, outros pesos e medidas, bastantes vezes de dois e três gêneros no mesmo Estado. E de todos estes inumeráveis gêneros de moedas, medidas ou pesos, nem um só era reconhecido no mercado mundial. Que admiração, pois, se negociantes e fabricantes que estavam em relações com o mercado mundial ou tinham de concorrer com artigos importados ainda tivessem de fazer uso de todas as moedas, medidas e pesos do estrangeiro, o fio de algodão dobado em libras inglesas, os tecidos de seda fabricados ao metro, as contas para o estrangeiro postas em libras esterlinas, dólares, francos? E como se havia de conseguir grandes instituições de crédito nestes âmbitos monetários limitados, aqui com notas bancárias em Gulden(4*), além em táleres prussianos, ao lado em táleres-ouro, táleres “Neue Zweidrittel”(5*), marcos-banco, marcos correntes, vinte e dois Gulden, vinte e quatro Gulden, com intermináveis cálculos cambiais e flutuações cambiais?
E quando, finalmente, se conseguia vencer tudo isso, quanta força se não tinha gasto com todos estes atritos, quanto dinheiro e tempo se não perdiam! Começou-se a observar por fim, também na Alemanha, que hoje em dia tempo é dinheiro.
A jovem indústria alemã tinha de provar no mercado mundial que só pela exportação podia tornar-se grande. Para isso era preciso que ela gozasse, no estrangeiro, da proteção do direito internacional. O comerciante inglês, francês, americano, podia sempre permitir-se algo mais no estrangeiro do que em casa. A sua legação intervinha por ele e, em caso de necessidade, alguns navios de guerra também. Mas o alemão! No Levante podia pelo menos o austríaco, em certa medida, confiar na sua legação, mesmo que não o ajudasse muito. Mas onde um negociante prussiano, no estrangeiro, se queixasse ao legado [do seu país] sobre alguma injustiça, quase sempre lhe era dito:
“Isto acontece-lhe com toda a razão. Que tem V. a procurar aqui, por que não fica quietinho em casa?”
O cidadão de um pequeno Estado, por maioria de razão, estava por toda a parte completamente desprovido de direitos. Para onde quer que se fosse, os negociantes alemães ficavam sob proteção estrangeira, francesa, inglesa, americana, ou tinham de se naturalizar quanto antes na nova pátria(6*). E mesmo se os legados [do seu país] quisessem interessar-se por eles, de que serviria? Os legados alemães eram eles mesmos tratados no ultramar como os engraxadores.
Por aqui se vê como a ânsia por uma “pátria” unificada tinha um fundo muito material. Já não era o ímpeto nebuloso de corporações de estudantes [Burschenschafter] nas festas de Wartburg, “onde flamejavam coragem e força nas almas alemãs”(7*); onde, a uma melodia francesa, se “arrastava o jovem, com sopro de tempestade, à luta e à morte pela pátria”(8*) para restaurar a romântica magnificência imperial da Idade Média; e onde o tempestuoso jovem se tornava por completo, na velhice, um vulgar criado pietista e absolutista de príncipe. Também já não era o apelo à unidade, significativamente mais próximo da terra, por parte dos advogados e outros ideólogos burgueses da festa de Hambach, que acreditavam amar a liberdade e a unidade por elas mesmas e não reparavam que a helvetização da Alemanha numa república de cantõezinhos, à qual ia parar o ideal dos menos confusos de entre eles, era tão impossível como o império hohenstaufeniano daqueles estudantes. Não, era o desejo impetuoso do comerciante e do industrial práticos, a partir da necessidade imediata de negócios, de varrer toda a velharia de pequenos Estados transmitida historicamente e que barrava o caminho à livre expansão do comércio e indústria; de afastar toda a fricção superficial que o negociante alemão tinha primeiro de vencer no seu país se queria entrar no mercado mundial e a que eram poupados todos os seus concorrentes. A unidade alemã tinha-se tornado uma necessidade econômica. E a gente que a reclamava, agora, sabia o que queria. Tinha sido criada no comércio e para o comércio, entendia-se para comerciar e com ela podia-se tratar. Ela sabia que se tem de exigir muito alto, mas que se tem também de baixar liberalmente. Ela cantava “a pátria alemã”, incluindo a Estíria, o Tirol e “a Áustria rica de honras e vitórias”, e:
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt,
Deutschíand, Deutschland über alies,
über alies in der Welt(9*) —
mas estava pronta a conceder, desta pátria que tinha de ser sempre maior(10*), um abatimento muito considerável — 25% a 30% — contra pagamento a pronto. O seu plano de unidade estava feito e era praticável de imediato.
A unidade alemã não era, porém, uma questão meramente alemã. Desde a guerra dos Trinta Anos já não havia um só assunto comum alemão que tivesse sido decidido sem a muito sensível ingerência do estrangeiro(11*). Frederico II tinha conquistado a Silésia em 1740 com a ajuda dos franceses. A França e a Rússia tinham literalmente ditado, em 1803, a reorganização do Sacro Império Romano, por meio da Reichsdeputationshauptschluss. Depois, Napoleão organizou a Alemanha segundo a sua conveniência. E finalmente, no Congresso de Viena(12*), ela foi de novo fragmentada, principalmente pela Rússia e, em segunda linha, pela Inglaterra e pela França, em trinta e seis Estados, com mais de duzentos farrapos de terra particulares, grandes e pequenos; e os dinastas alemães, tal qual como em 1802-1803 no Parlamento Imperial de Regensburg, haviam sinceramente ajudado a isso e tornado ainda pior a fragmentação. Além disto, foram entregues pedaços isolados da Alemanha a príncipes estrangeiros. Assim estava a Alemanha, não só impotente e desamparada, consumida em zangas internas, política, militar e mesmo industrialmente condenada à nulidade; mas, ainda mais grave, a França e a Rússia tinham adquirido, por uso repetido, um direito à fragmentação da Alemanha, assim como a França e a Áustria se arrogaram um direito de zelar por que a Itália permanecesse despedaçada. Foi este pretenso direito que o czar Nicolau tinha feito valer em 1850 quando, proibindo da maneira mais grosseira qualquer alteração da Constituição de própria iniciativa, forçou o restabelecimento do Parlamento Federal, essa expressão da impotência da Alemanha.
A unidade da Alemanha tinha pois de ser conquistada não só contra os príncipes e outros inimigos internos, mas também contra o estrangeiro. E como estavam, nessa altura, as coisas no estrangeiro?
Na França, tinha Luís Bonaparte utilizado a luta entre burguesia e classe operária para se guindar à presidência com a ajuda dos camponeses, e ao trono imperial com a ajuda do exército. Mas um novo imperador Napoleão feito pelo exército, dentro das fronteiras da França de 1815, era um absurdo natimorto. O império napoleônico renascido, isso queria dizer a extensão da França até ao Reno, a realização do sonho hereditário do chauvinismo francês. Mas, em primeiro lugar, Luís Bonaparte não tinha que ter o Reno; qualquer tentativa nessa direcção teria tido como consequência uma coligação europeia contra a França. Em contrapartida, oferecia-se uma ocasião para elevar a posição de potência da França e proporcionar novos louros ao exército, através de uma guerra dirigida, em acordo com quase toda a Europa, contra a Rússia, que utilizara o período revolucionário na Europa Ocidental para ocupar com toda a tranquilidade os principados do Danúbio e preparar uma nova guerra turca de conquista. A Inglaterra aliava-se com a França, a Áustria era favorável a ambas, só a heroica Prússia beijava o chicote russo, que ainda na véspera a açoitava, e permanecia em neutralidade russófila. Mas nem a Inglaterra nem a França queriam uma vitória séria sobre o adversário e assim a guerra terminou numa muito suave humilhação da Rússia e numa aliança russo-francesa contra a Áustria(13*).
A guerra da Crimeia fez da França a potência dirigente da Europa e do aventureiro Luís Napoleão o maior homem do dia, o que, seguramente, não quer dizer muito. Mas a guerra da Crimeia não levou à França qualquer aumento territorial e trouxe no seio uma nova guerra, na qual Luís Napoleão devia cumprir a sua verdadeira vocação de “dilatador do Império”(14*). Esta nova guerra já tinha sido urdida durante a primeira, ao ser permitido à Sardenha incluir-se na aliança das potências ocidentais como satélite da França imperial, e especialmente como seu posto avançado — contra a Áustria. A guerra foi posteriormente preparada na conclusão da paz, pelo acordo de Luís Napoleão com a Rússia, à qual nada era mais agradável do que um castigo da Áustria.
Luís Napoleão era agora o ídolo da burguesia europeia. Não só por causa da sua “salvação da sociedade” no 2 de Dezembro de 1851, onde certamente tinha aniquilado a dominação política da burguesia, mas para salvar a dominação social desta. Não só por ele ter mostrado como pode o sufrágio universal, em circunstâncias favoráveis, ser transformado num instrumento para a opressão das massas; não só porque sob a dominação dele a indústria e o comércio e, designadamente, a especulação e a intrujice da Bolsa prosperavam de maneira nunca vista — mas, antes de tudo, porque a burguesia reconhecia nele o primeiro “grande homem de Estado” que era carne da sua carne, sangue do seu sangue(15*). Era um arrivista, como qualquer verdadeiro burguês. “Passado por todas as águas”, conspirador carbonário na Itália, oficial de artilharia na Suíça, distinto vagabundo endividado, polícia especial na Inglaterra, mas sempre e por toda a parte pretendente, ele tinha-se preparado, por um passado aventureiro e por comprometimentos morais em todos países da Europa, para imperador dos franceses, dirigente dos destinos da Europa. Tal como o burguês tipo, o americano, se prepara para milionário por uma série de bancarrotas honradas e fraudulentas. Como imperador, não só colocou a política ao serviço do ganho capitalista e da intrujice da Bolsa, mas empreendeu a própria política totalmente segundo os princípios da Bolsa de valores e especulou com o “princípio das nacionalidades”. A fragmentação da Alemanha e da Itália tinha sido até então, para a política francesa um direito fundamental inalienável da França: Luís Napoleão dis-pôs-se logo a desfazer-se desse direito aos pedaços, a troco de pretensas compensações. Ele estava pronto a ajudar a Itália e a Alemanha a eliminar a sua fragmentação, no pressuposto de que a Alemanha e a Itália lhe pagariam cada passo para a unificação nacional com uma cedência de território. Assim, não só foi satisfeito o chauvinismo francês, não só o império foi gradualmente levado às suas fronteiras de 1801, como a França se colocou de novo enquanto potência especificamente esclarecida e libertadora dos povos, e Luís Napoleão como protetor das nacionalidades oprimidas. Então toda a burguesia esclarecida e entusiasta das nacionalidades (porque vivamente interessada na remoção de todos os obstáculos aos negócios no mercado mundial) rejubilou unanimemente com estas Luzes libertadoras do mundo.
O começo foi feito na Itália(16*). Desde 1849, a Áustria dominava aí ilimitadamente e a Áustria era então o bode expiatório geral da Europa. A magreza dos resultados da guerra da Crimeia não foi imputada à indecisão das potências ocidentais, que só tinham querido uma guerra de aparência, mas à posição indecisa da Áustria, da qual ninguém fora mais culpado que as próprias potências ocidentais. Mas a Rússia ficara tão ofendida com o avanço dos austríacos sobre o Prut — agradecimento da ajuda russa na Hungria em 1849 (embora este avanço tenha precisamente salvo a Rússia), que via com alegria qualquer ataque contra a Áustria. A Prússia já não contava, já era tratada en canaille(17*) no congresso da paz, de Paris. E, assim, a guerra para a libertação da Itália “até ao Adriático” foi urdida com a colaboração da Rússia, foi empreendida na Primavera de 1859 e terminada já no Verão, no Míncio. A Áustria não foi expulsa da Itália, a Itália não ficou “livre até ao Adriático” e não foi unificada, a Sardenha recebera acréscimos; mas a França obtivera a Sabóia e Nice e tinha assim, do lado da Itália, as fronteiras de 1801.
Mas os italianos não estavam satisfeitos com isso. Na Itália era então a manufatura propriamente dita que predominava, a grande indústria andava ainda de cueiros. A classe operária ainda não estava, nem de longe, completamente expropriada e proletarizada; nas cidades, possuía ainda os seus meios próprios de produção, no campo o trabalho industrial era um ganho paralelo para pequenos camponeses possuidores de terras ou para rendeiros. Por conseguinte, a energia da burguesia ainda não estava quebrada pela oposição face a um moderno proletariado com consciência de classe. E como só havia fragmentação na Itália pela dominação estrangeira da Áustria, sob cuja proteção os príncipes levavam ao extremo o seu mau governo, a nobreza grande possuidora de terras e as massas populares das cidades estavam do lado da burguesia, enquanto campeã da independência nacional. Mas, em 1859, sacudira-se a dominação estrangeira, exceto na Veneza; a sua ingerência ulterior seria impossibilitada pela França e pela Rússia; já ninguém a receava. E a Itália possuía em Garibaldi um herói de caráter antigo, que podia fazer prodígios e os fez. Com mil voluntários [Freischärlern] derrubou todo o reino de Nápoles, unificou efetivamente a Itália, rasgou o tecido artificial da política bonapartista. A Itália estava livre e, em substância, estava unificada — não pelas intrigas de Luís Napoleão, mas pela revolução.
Desde a guerra italiana, a política externa do segundo Império francês já não era um segredo para ninguém. Os vencedores do grande Napoleão deviam ser castigados — mas Vun après Vautre(18*), um após outro. A Rússia e a Áustria tinha recebido a sua parte, a próxima da série era a Prússia. E a Prússia era mais desprezada que nunca; a sua política durante a guerra italiana tinha sido cobarde e lastimosa, tal qual como no tempo da paz de Basileia, em 1795. Com a “política das mãos livres”, chegou ela ao ponto de ficar inteiramente isolada na Europa, [ao ponto] de todos os seus vizinhos, grandes e pequenos, se regozijarem ante o espetáculo de como a Prússia foi batida, de as suas mãos só ficarem livres para isto: ceder à França a margem esquerda do Reno.
De facto, nos primeiros anos após 1859, era convicção por toda a parte propalada e mais do que em parte nenhuma no próprio Reno, que a margem esquerda do Reno caberia irremediavelmente à França. Não era precisamente o que se desejava, mas via-se chegar isso como uma fatalidade inevitável e — honra seja feita à verdade — também não se receava muito isso. Entre os camponeses e pequenos burgueses redespertavam as velhas recordações do tempo dos franceses, que realmente tinha trazido a liberdade; do lado da burguesia, estava já a aristocracia financeira, particularmente em Colónia, profundamente implicada nas intrujices do Crédit mobilier(19*) parisiense e noutras companhias de aldrabice bonapartistas, e clamava pela anexação(20*).
Todavia, a perda da margem esquerda do Reno era o enfraquecimento não só da Prússia, mas também da Alemanha. E a Alemanha estava mais cindida que nunca. A Áustria e a Prússia mais estranhas uma à outra que nunca por causa da neutralidade da Prússia na guerra italiana; a chusma de pequenos príncipes, meio receosa de Luís Napoleão e meio desejosa dele, olhando-o como ao protector de uma renovada Confederação do Reno — tal era a situação da Alemanha oficial. E isso num momento em que só as forças unidas da nação inteira eram capazes de evitar o perigo do desmembramento.
Mas como unir as forças da nação inteira? Três vias estavam abertas, após as tentativas fracassadas de 1848, quase sem excepção nebulosas, mas que também por isso mesmo tinham dissipado muita névoa.
A primeira via era a da unificação efetiva através da eliminação de todos os Estados singulares, logo, a via abertamente revolucionária. Esta via tinha acabado de conduzir à meta na Itália; a dinastia de Sabóia tinha-se juntado à revolução e embolsado assim a coroa da Itália. Mas de tal feito audacioso eram absolutamente incapazes os nossos Sabóias alemães, os Hohenzollern, e mesmo os seus Cavour mais temerários à la Bismarck(21*). O povo teria mesmo tido de fazer tudo — e numa guerra pela margem esquerda do Reno ele teria sido bem capaz de fazer o necessário. A retirada inevitável dos prussianos sobre o Reno, a guerra estacionária nas fortificações renanas, a traição, então indubitável, dos príncipes da Alemanha do Sul, podiam conseguir desencadear um movimento nacional face ao qual seria pulverizada a inteira governação dos dinastas. E então Luís Napoleão seria o primeiro a embainhar a espada. O segundo Império só podia utilizar, como adversários, Estados reacionários perante os quais aparecesse como continuador da Revolução Francesa, como libertador dos povos. Contra um povo ele próprio em revolução, aquele era impotente; a revolução alemã vitoriosa podia até dar o impulso para o derrubamento do Império francês inteiro. Esse era o caso mais favorável; no mais desfavorável, se os dinastas se tornassem senhores do movimento, perdia-se temporariamente a favor da França a margem esquerda do Reno, punha-se simplesmente perante todo o mundo a traição ativa ou passiva dos dinastas, e criava-se uma situação forçada onde não restaria à Alemanha outra saída que a revolução, a expulsão de todos os príncipes, o estabelecimento da República alemã unificada.
Tal como estavam as coisas, esta via para a unificação da Alemanha só podia ser percorrida se Luís Napoleão iniciasse a guerra pela fronteira do Reno. Contudo, esta guerra não se fez — por razões a mencionar de seguida. Mas com isso a questão da unificação nacional deixou de ser uma questão vital premente, que tivesse de ser resolvida de um dia para o outro sob pena de ruína. Provisoriamente, a nação podia esperar.
A segunda via era a unificação sob a predominância da Áustria. Em 1815, a Áustria tinha mantido de bom grado a situação que lhe fora imposta pelas guerras napoleônicas, a de um território nacional compacto, arredondado. Ela já não reivindicava as suas possessões na Alemanha do Sul, que outrora tinham sido separadas dela; contentava-se com a junção de antigas e novas regiões, que geográfica e estrategicamente se deixavam ajustar ao núcleo ainda restante da monarquia. A separação da Áustria alemã do resto da Alemanha, introduzida pelas barreiras alfandegárias de José II, agravada pela administração policial italiana de Francisco I, levada ao extremo pela dissolução do Império alemão e da Confederação do Reno, manteve-se factualmente em vigor mesmo depois de 1815. Metternich rodeou o seu Estado, do lado alemão, por uma muralha da China em forma. As alfândegas mantinham fora da Alemanha os produtos materiais, a censura os produtos espirituais; as mais inqualificáveis chicanas de passaportes limitavam o intercâmbio pessoal ao mínimo mais necessário. No plano interno, um arbitrário absolutista ali existente, único mesmo na Alemanha, prevenia contra todo o movimento político, mesmo o mais suave. Assim se mantivera a Áustria absolutamente afastada de todo o movimento burguês-liberal da Alemanha. Com 1848, caiu, pelo menos em grande parte, o muro de separação espiritual; mas os acontecimentos daquele ano e as suas consequências eram pouco apropriados para aproximar a Áustria da restante Alemanha; pelo contrário, a Áustria vangloriava-se cada vez mais da sua posição independente de grande potência. E assim aconteceu que, apesar de se gostar dos soldados austríacos nas fortificações federais, e de os soldados prussianos serem detestados e ridicularizados, apesar de a Áustria ser cada vez mais popular em todo o Sul e o Oeste predominantemente católicos, ninguém pensava seriamente, porém, numa unificação da Alemanha sob predominância austríaca, exceto alguns pequenos e médios príncipes de Estado alemães.
Não podia mesmo ser de outro modo. A própria Áustria não tinha querido outra coisa, embora alimentasse em sossego sonhos imperiais românticos. A fronteira alfandegária austríaca permanecera, com o tempo, o único muro de separação material ainda restante no interior da Alemanha, o que a tornou tanto mais agudamente sensível. A política independente de grande potência não tinha qualquer sentido se não significasse o abandono dos interesses alemães a favor dos interesses especificamente austríacos, logo, italianos, húngaros, etc. Tal como antes, também depois da revolução a Áustria permaneceu o Estado mais reacionário da Alemanha, aquele que mais contrariado seguiu a corrente moderna e, além disso, a única grande potência especificamente católica ainda restante. Quanto mais o governo do após-Março [nachmärzliche] se esforçava por restabelecer a velha governação dos padres e jesuítas, mais se lhe tornava impossível a hegemonia sobre um país em dois termos protestante. E, finalmente, uma unificação da Alemanha sob a Áustria só era possível através do rebentamento da Prússia. Mas, por pouco que este significasse, em si, uma desgraça para a Alemanha, o rebentamento da Prússia pela Áustria ter-se-ia tornado tão funesto como o seria o rebentamento da Áustria pela Prússia antes da vitória iminente da revolução na Rússia (após a qual se torna supérfluo aquele, porque a Áustria, então tornada supérflua, tem de cair por si mesma).
Numa palavra, a unidade alemã sob a asa da Áustria era um sonho romântico e mostrou-se como tal quando, em 1863, os pequenos e médios príncipes alemães se reuniram em Frankfurt para proclamarem Francisco José da Áustria como imperador alemão. O rei da Prússia(22*) esteve simplesmente ausente e a comédia imperial caiu miseravelmente à água.
Ficava a terceira via: a unificação sob chefia prussiana. E esta via, porque realmente seguida, reconduz-nos para baixo, do domínio da especulação para o terreno mais sólido, se bem que assaz sujo, da política prática, da “política realista”.
Desde Frederico II, a Prússia via na Alemanha, tal como na Polónia, um mero território de conquista do qual se toma o que se pode apanhar, mas que também há que partilhar com outros, como se compreende. A partilha da Alemanha com o estrangeiro — com a França, antes de mais — era a “vocação alemã” da Prússia desde 1740. “Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons”(23*) (“Vou, creio eu, jogar o vosso jogo; se me vierem os ases, partilharemos”) — foram as palavras de despedida de Frederico ao plenipotenciário francês(24*) quando moveu a sua primeira guerra. Fiel a esta “vocação alemã”, a Prússia traiu a Alemanha em 1795 na Paz de Basileia, consentiu antecipadamente (tratado de 5 de Agosto de 1796), contra garantia de aumento territorial, na cedência à França da margem esquerda do Reno, e também cobrou efetivamente, pela Reichsdeputationshauptschluss, ditada pela Rússia e pela França, o preço da traição do Império. Em 1805 traiu ainda as suas confederadas, a Rússia e a Áustria, logo que Napoleão lhe estendeu o Hannover — o isco em que mordia de cada vez — mas embrulhou-se tanto na sua esperteza boçal que chegou até à guerra com Napoleão e recebeu em Jena o castigo merecido. Ressentindo-se destes golpes, queria Frederico-Guilherme III renunciar, mesmo depois das vitórias de 1813 e 1814, a todos os postos exteriores [Aussenposten] alemães ocidentais, limitar-se à posse da Alemanha do Nordeste, retirar-se, à semelhança da Áustria, o mais possível da Alemanha — o que teria transformado a Alemanha Ocidental inteira numa nova Confederação do Reno sob dominação protetora russa ou francesa. O plano não resistiu; inteiramente contra a vontade do rei, foram-lhe impostas a Vestefália e a província do Reno, e com isso uma nova “vocação alemã”.
Excetuada a compra de minúsculos farrapos de terra isolados, estavam por enquanto acabadas as anexações. No plano interno, veio a reflorescer, pouco a pouco, a velha governação junker-burocrática; as promessas de Constituição, feitas na amarga necessidade ao povo, foram persistentemente quebradas. Mas apesar de tudo isso também na Prússia a burguesia se elevava cada vez mais, pois sem indústria e sem comércio, mesmo o arrogante Estado prussiano era agora uma nulidade. Lentamente, com renitência, em doses homeopáticas, tiveram de ser feitas concessões econômicas à burguesia. E, num aspecto, ofereciam estas concessões a perspectiva de apoiar a “vocação alemã” da Prússia: no de que, para eliminar as fronteiras alfandegárias estrangeiras entre as suas duas metades, a Prússia convidou para a unificação alfandegária os Estados alemães limítrofes. Assim nasceu a União aduaneira [Zollverein], voto piedoso até 1830 (só o Hessen-Darmstadt tinha aderido), mas que depois, com o andamento algo mais rápido do movimento político e econômico, em breve anexou economicamente à Prússia a maior parte da Alemanha interior. Os territórios costeiros não prussianos ainda permaneceram de fora para além de 1848.
A União aduaneira foi um grande sucesso da Prússia. Que significasse uma vitória sobre a influência austríaca ainda era o mínimo. O principal era que colocava do lado da Prússia a burguesia inteira dos médios e pequenos Estados. Exceptuada a Saxônia, não havia Estado alemão cuja indústria se tivesse desenvolvido em medida sequer aproximada da prussiana; e isto não era só devido a prévias condições naturais e históricas, mas também ao maior território alfandegário e ao mercado interno. E quanto mais a União aduaneira se estendia e os pequenos Estados eram incluídos neste mercado interno, mais se habituavam os burgueses principiantes destes Estados a olhar para a Prússia como a sua potência economicamente — e um dia também politicamente — preponderante. E conforme os burgueses tocavam, assim dançavam os professores. Aquilo que em Berlim os hegelianos construíam filosoficamente — ser a Prússia chamada a pôr-se à cabeça da Alemanha — demonstravam-no historicamente em Heidelberg os discípulos de Schlosser, nomeadamente Häusser e Gervinus. Com isso era naturalmente pressuposto que a Prússia alteraria o seu inteiro sistema político, satisfaria as exigências dos ideólogos da burguesia(25*).
Mas tudo isso aconteceu, não por particular predileção pelo Estado prussiano, tal como, porventura, os burgueses italianos aceitaram o Piemonte como Estado dirigente depois de este se ter abertamente colocado à cabeça do movimento nacional e constitucional. Não, isso aconteceu com renitência, os burgueses tomaram a Prússia como o menor mal: porque a Áustria os excluía do seu mercado e porque a Prússia, comparada com a Áustria, sempre tinha um certo carácter burguês, quanto mais não fosse pela sua sovinice financeira. Perante os outros grandes Estados, a Prússia tinha de antemão duas boas instituições: o serviço militar obrigatório e a escola obrigatória. Ela tinha-as introduzido em tempos de aflição desesperada e tinha-se contentado, em melhores dias, com despojá-las. Por aplicação negligente e mutilação deliberada, do seu carácter circunstancialmente perigoso. Mas elas subsistiam no papel e, assim, a Prússia mantinha a possibilidade de um dia desdobrar, num grau inatingível em qualquer outra parte para igual número de população, a energia potencial adormecida na massa do povo. A burguesia acomodava-se com estas duas instituições; por 1840, o serviço pessoal obrigatório dos que cumpriam um ano, portanto os filhos de burgueses, era fácil de levar, e ficava bastante em conta por corrupção, tanto mais que se dava então pouco valor, mesmo no exército, aos oficiais da Landwehr recrutados nos círculos comerciais e industriais. E o grande número de gente ainda restante da escola obrigatória, com uma certa soma de conhecimentos elementares, que havia incontestavelmente na Prússia, era no mais alto grau útil à burguesia; tornou-se até insuficiente, por fim, com o progresso da grande indústria(26*). As queixas sobre os altos custos das duas instituições(27*), expressos em pesados impostos, faziam-se ouvir sobretudo na pequena burguesia; a burguesia ascendente calculava que os custos, com certeza desagradáveis, mas inevitáveis, de futura grande potência, seriam largamente compensados pelos lucros aumentados.
Numa palavra, os burgueses alemães não tinham quaisquer ilusões sobre a amabilidade prussiana. Se desde 1840 a hegemonia prussiana era bem vista entre eles, isso só acontecia porque e na medida em que a burguesia prussiana, na sequência do seu mais rápido desenvolvimento econômico, se punha econômica e politicamente à cabeça da burguesia alemã, porque e na medida em que os Rotteck e os Welcker do Sul velho-constitucionalista eram eclipsados pelos Camphausen, Hansemann e Milde do Norte prussiano, os advogados e professores [eclipsados] pela gente do comércio e pelos fabricantes. E sentia-se de facto nos liberais prussianos, nomeadamente nos renanos dos últimos anos antes de 1848, um sopro revolucionário inteiramente diferente do que se sentia nos liberais de cantõezinhos do Sul. Nasceram então os dois melhores cantos populares políticos desde o século XVI, o canto do burgomestre Tschech e o da baronesa de Droste-Vischering, de cuja temeridade se horrorizam hoje, na velhice, os mesmos que em 1846, despreocupadamente, cantavam juntos:
Hatte je ein Mensch so'n Pech
Wie der Bürgermeister Tschech,
Dass er diesen dicken Mann
Auf zwei Schritt nicht treffen kann!(28*)
Mas tudo isso devia alterar-se em breve. Veio a revolução de Fevereiro e vieram as jornadas de Março, de Viena, e veio a revolução de Berlim do 18 de Março. A burguesia tinha vencido sem lutar seriamente, nem sequer quisera a luta a sério quando esta veio. Ela que ainda pouco antes tinha coqueteado com o socialismo e o comunismo (nomeadamente no Reno), notava agora de repente que não tinha só criado operários isolados, mas uma classe operária, um proletariado na verdade ainda semiconfundido no sonho mas a despertar pouco a pouco, revolucionário segundo a sua mais íntima natureza. E este proletariado, que conquistara por toda a parte a vitória para a burguesia, colocava já reivindicações, nomeadamente em França, que eram incompatíveis com a existência da ordem burguesa inteira; em Paris ocorreu a primeira luta terrível entre ambas as classes, a 23 de Junho de 1848; após uma batalha de quatro dias, o proletariado foi derrotado. A partir daí a massa da burguesia na Europa inteira pôs-se do lado da reação, aliou-se com os burocratas, feudais e padres absolutistas, derrubados precisamente por ela, antes, com a ajuda dos operários — contra os inimigos da sociedade, precisamente os mesmos operários.
Na Prússia isso aconteceu sob a forma seguinte: a burguesia abandonou os seus próprios representantes eleitos e viu com alegria, dissimulada ou aberta, a sua dispersão pelo governo em Novembro de 1848. O ministério junker-burocrático, que se pavoneava agora ao longo de dez anos na Prússia, na verdade teve de governar sob formas constitucionais, mas vingou-se disso através de um sistema de chicanas e vexames mesquinhos, até aí inauditos mesmo na Prússia, sob o qual ninguém mais do que a burguesia havia de sofrer. Mas esta, arrependida, voltava a si, apanhava humildemente pancada e pontapés que lhe choviam em cima como castigo pelos seus apetites revolucionários de outrora, e aprendia agora, pouco a pouco, a pensar o que mais tarde exprimiu: cães, é o que nós somos!
Veio a regência. Para provar a sua fidelidade ao rei, Manteuffel fizera rodear de espiões o herdeiro do trono, o imperador actual(29*), assim como agora Puttkamer a redação do Sozialdemokrat. Quando o herdeiro do trono se tornou regente, Manteuffel naturalmente recebeu logo um pontapé que o pôs de lado e a Nova Era começou. Foi só uma mudança de cena. O príncipe regente dignou-se permitir aos burgueses que voltassem a ser liberais. Os burgueses fizeram uso, com prazer, desta permissão, imaginando que tinham agora a faca e o queijo na mão, que o Estado prussiano teria de dançar ao som da sua música. Mas isso não era de modo nenhum o propósito “nos círculos competentes”, como diz o estilo reptilário. A reorganização do exército devia ser o preço pelo qual os burgueses liberais pagavam a Nova Era. O governo só exigia com isso a execução do serviço militar obrigatório até ao ponto em que tinha sido usual por 1816. Do ponto de vista da oposição liberal, absolutamente nada podia ser dito em contrário que as suas próprias frases sobre a posição de potência da Prússia e a vocação alemã não lhe atirassem também à cara. Mas a oposição liberal ligava o seu consentimento à condição de que o tempo de serviço legal fosse de dois anos no máximo. Isto era, em si, inteiramente racional, a questão porém era se isso se podia extorquir, se a burguesia liberal do país estava pronta a responder até ao extremo, com bens e sangue, por essa condição. O governo teimava em três anos de serviço, a câmara em dois; o conflito rebentou. E com o conflito na questão militar, voltou a política externa a ser decisiva também para a interna.
Vimos como a Prússia, pela sua atitude na guerra da Crimeia e na guerra italiana, tinha perdido os últimos restos de consideração. Esta política lastimosa encontrava parcialmente uma desculpa no mau estado do exército. Dado que já antes de 1848 não se podiam aplicar novos impostos ou contrair empréstimos sem consentimento dos estados [ständische], mas também não se queria convocar para isso os estados [Stände], nunca havia dinheiro bastante para o exército e este decaía por completo sob a avareza sem limites. O espírito de parada e de fanatismo da disciplina introduzido sob Frederico-Guilherme III fez o resto. A que ponto este exército de parada se mostrou sem recursos, em 1848, nos campos de batalha dinamarqueses, é o que se pode reler no conde Waldersee. A mobilização de 1850 foi um fiasco completo; faltava de tudo e o que havia não prestava, a maior parte das vezes. Remediou-se então isso por consentimento de crédito por parte da câmara; o exército foi sacudido da velha praxe, o serviço de campo suplantou, pelo menos em grande parte, o serviço de parada. Mas os efetivos do exército continuavam os mesmos que por 1820, enquanto todas as outras grandes potências, nomeadamente a França, da qual precisamente agora o perigo ameaçava, tinham aumentado significativamente o seu poderio militar. E contudo, subsistia na Prússia o serviço militar obrigatório; cada prussiano era soldado no papel, ao passo que a população tinha crescido de dez milhões e meio (1817) para dezassete milhões e três quartos (1858) e os quadros do exército não conseguiam incorporar e formar mais do que um terço dos aptos para o serviço militar. O governo exigia agora um reforço do exército que correspondesse quase precisamente ao crescimento da população desde 1817. Mas os mesmos deputados liberais que exigiam continuamente do governo que este se pusesse à cabeça da Alemanha, que defendesse a posição de potência da Alemanha para o exterior, que restabelecesse a sua consideração entre as nações — essa mesma gente era avara, regateava e nada queria consentir a não ser na base do tempo de serviço de dois anos. Tinham eles o poder de impor a sua vontade, na qual insistiam tão tenazmente? Estava o povo, ou mesmo só a burguesia, atrás deles, pronto para atacar?
Pelo contrário. A burguesia jubilava com as lutas oratórias daqueles contra Bismarck, mas na realidade organizava um movimento que, embora inconscientemente, era de facto dirigido contra a política da maioria prussiana da câmara. As intrusões da Dinamarca na Constituição do Holstein, as violentas tentativas de danização [Dänisierung] no Schleswig, indignavam o burguês alemão. Ser vexado pelas grandes potências, a isso estava ele habituado; mas levar pontapés da pequena Dinamarca inflamava a sua cólera. Foi formada a União Nacional [Nationalverein]; precisamente a burguesia dos pequenos Estados formava os seus efetivos. E a União Nacional, por muito liberal que fosse, exigia antes de todas as coisas a unificação nacional sob direção da Prússia, de uma Prússia quanto possível liberal, de uma Prússia como a de sempre se necessário. Que enfim se andasse para diante, se acabasse com a posição miserável dos alemães como homens de segunda classe no mercado mundial, se castigasse a Dinamarca, se mostrassem os dentes às grandes potências no Schleswig-Holstein, isso era o que, antes de tudo, reclamava a União Nacional. E assim estava agora liberta a exigência da chefia prussiana de todas as obscuridades e divagações que se lhe tinham colado até 1850. Sabia-se com precisão que ela significava a rejeição da Áustria para fora da Alemanha e a eliminação efectiva da soberania dos pequenos Estados, e que não se podiam ter ambas as coisas sem a guerra civil e sem a divisão da Alemanha. Mas já não se receava a guerra civil e a divisão apenas fazia o balanço do bloqueio alfandegário austríaco. A indústria e o comércio da Alemanha tinham-se desenvolvido a uma altura tal, a rede das casas comerciais alemãs, que abrangia o mercado mundial, tinha-se tornado tão extensa e tão densa, que no país já não se suportava mais o sistema de pequenos Estados e a ausência de direito e de proteção no estrangeiro. E enquanto a mais forte organização política que a burguesia alemã alguma vez possuíra dava de facto aos deputados de Berlim esse voto de desconfiança, estes regateavam à volta do tempo de serviço!
Tal era a situação quando Bismarck se dispôs a intervir ativamente na política externa.
Bismarck é Luís Napoleão traduzido do aventureiro francês, pretendente à coroa, para fidalgote [Krautjunker] prussiano e para estudante alemão de corporação [Korpsbursche]. Tal qual como Luís Napoleão, é Bismarck um homem de grande entendimento prático e de grande esperteza, um homem de negócios nato e sabido, que noutras circunstâncias teria disputado o lugar aos Vanderbilt e Jay Gould na Bolsa de Nova Iorque, assim como soube pôr a salvo o seu bonito pé-de-meia. A este entendimento desenvolvido no domínio da vida prática está frequentemente ligada, porém, uma correspondente estreiteza de horizontes e nisso excede Bismarck o seu precursor francês. Pois este tinha conseguido elaborar as suas “ideias napoleônicas” durante o seu tempo de vagabundo — elas eram conformes a isso — enquanto Bismarck, como veremos, não só não realizou vestígio de uma ideia política própria, mas apenas combinou as ideias prontas de outros. Mas esta tacanhez foi precisamente a sua sorte. Sem ela não teria conseguido representar-se a inteira história universal do ponto de vista especificamente prussiano; tivesse esta visão do mundo, prussiana de gema, um buraco por onde penetrasse a luz do dia, e ele ter-se-ia extraviado de toda a sua missão, teria acabado a sua glória. É certo que quando cumpriu, à sua maneira, a sua particular missão, que lhe foi prescrita de fora, tinha também esgotado o seu latim; veremos a que falhanços se viu forçado na sequência da sua absoluta falta de ideias racionais e da sua incapacidade de compreender a situação histórica por ele mesmo criada.
Se Luís Napoleão se tinha habituado, pelo seu passado, a observar poucos escrúpulos na escolha dos seus meios, Bismarck aprendeu da história da política prussiana, nomeadamente da do grande eleitor(30*) e de Frederico II, a proceder ainda menos escrupulosamente, no que podia conservar a exaltante consciência de se manter assim fiel à tradição pátria. O seu entendimento dos negócios ensinou-lhe a reprimir a sua cobiça de Junker, quando tinha de ser quando isso já não parecia necessário, ela sobressaía outra vez de maneira crua; isso era certamente um sinal de declínio. O seu método político era o do estudante alemão de corporação; a interpretação burlesca-literal do Bierkomment(31*), pelo qual se sai de apuros em patuscada de estudantes, aplicava-a ele na câmara com inteiro desembaraço à Constituição prussiana; todas as inovações que introduziu na diplomacia são retiradas da estudantada das corporações. Mas se Luís Napoleão foi muitas vezes inseguro em momentos decisivos, como no golpe de Estado de 1851, em que Morny teve positivamente de usar de violência para com ele para que prosseguisse o que estava começado, e como na véspera da guerra de 1870 em que a sua insegurança arruinou toda a sua posição, tem de dizer-se de Bismarck que isso nunca lhe sucedeu. A sua força de vontade nunca o abandonou; antes se mudava em brutalidade aberta. E nisto reside, antes de tudo, o segredo dos seus sucessos. Em todas as classes dominantes na Alemanha, nos Junker como nos burgueses, está a tal ponto perdido o último resto de energia, tornou-se a tal ponto costume, na Alemanha “culta”, não ter vontade alguma, que o único homem entre eles que ainda tinha realmente vontade tornou-se o seu maior homem e tirano de todos eles, perante o qual, contra a própria consciência, como eles dizem, estavam prontos a “andar a toque de caixa” [über den Stock springen]. Na Alemanha “inculta” ainda não se está certamente tão longe; o povo operário tem mostrado que tem uma vontade da qual a forte vontade de Bismarck nada consegue.
Uma carreira brilhante estava à frente do nosso Junker da velha Marca [altmärkischer] se apenas tivesse coragem e entendimento para a agarrar. Não se tinha tornado Luís Napoleão o ídolo da burguesia, precisamente por ter dispersado o seu Parlamento, mas elevado os seus lucros? E não tinha Bismarck os mesmos talentos para negócios que os burgueses tanto admiravam no falso Bonaparte? Não era ele atraído para o seu Bleichröder como Luís Napoleão para o seu Fould? Não estava colocada em 1864, na Alemanha, uma contradição entre os deputados burgueses na câmara que queriam regatear o tempo de serviço e, fora dela, os burgueses na União Nacional, que queriam a todo o custo atos nacionais, atos onde é preciso o militar? Contradição de todo semelhante à que havia na França, em 1851, entre os burgueses na câmara, que queriam refrear o poder do presidente e, fora dela, os burgueses que queriam calma e governo forte, calma a todo o custo — contradição que Luís Napoleão tinha resolvido ao dispersar os zaragateiros do Parlamento e ao dar calma à massa dos burgueses. Não estavam as coisas na Alemanha muito mais seguras ainda para um golpe audacioso? Não tinha a burguesia fornecido o plano de reorganização, pronto e acabado, e não reclamava ela própria, em voz alta, um estadista prussiano enérgico que havia de executar o plano dela, excluir a Áustria da Alemanha, unificar os pequenos Estados sob predominância da Prússia? E se, com isso, se tivesse de tratar algo rudemente a Constituição prussiana, afastar dentro e fora da câmara os ideólogos como mereciam, não se poderia, tal como Luís Bonaparte, ter apoio no sufrágio universal? Que podia ser mais democrático do que a introdução do sufrágio universal? Não tinha Luís Napoleão demonstrado — por manejo judicioso — a inteira inocuidade daquele? E não oferecia precisamente esse sufrágio universal o meio de apelar para as grandes massas populares, de coquetear um poucochinho com o movimento social nascente, se a burguesia se mostrasse renitente?
Bismarck agarrou isso. Tratava-se de repetir o golpe de Estado de Luís Napoleão, de tornar claras e palpáveis, à burguesia alemã, as relações de força reais, de dissipar à força os seus auto-enganos liberais, mas executando as suas exigências nacionais coincidentes com os desejos prussianos. Primeiro foi o Schleswig-Holstein que ofereceu a ocasião para agir. O terreno da política externa estava preparado. O czar russo(32*) estava ganho, graças ao serviço de carrasco prestado por Bismarck em 1863 contra os polacos insurretos; também Luís Napoleão tinha sido trabalhado e podia, pelo seu querido “princípio das nacionalidades”, desculpar a sua neutralidade, senão o seu auxílio tácito, aos planos de Bismarck; na Inglaterra, Palmerston era primeiro-ministro, mas ele só pusera o pequeno lorde John Russell nos Negócios Estrangeiros com o fim de ali se tornar ridículo. A Áustria, porém, era concorrente da Prússia pela predominância na Alemanha e, precisamente neste assunto, ela devia tanto menos deixar a Prússia passar-lhe à frente quanto se tinha comportado, em 1850 e 1851, como esbirro do czar Nicolau no Schleswig-Holstein, de facto mais baixamente ainda que a própria Prússia. A situação era, pois, extremamente favorável. Tanto quanto Bismarck odiava a Áustria, de tão bom grado a Áustria teria descarregado na Prússia a sua cólera, mas com a morte de Frederico VII da Dinamarca só lhes restava intervir juntas contra a Dinamarca — com tácita autorização russa e francesa. O êxito estava antecipadamente assegurado enquanto a Europa permanecesse neutral; foi esse o caso, os ducados foram conquistados e cedidos na [conclusão da] paz.
Com esta guerra a Prússia tivera a finalidade secundária de experimentar perante o inimigo o seu exército, instruído desde 1850 segundo novos princípios, reorganizado e reforçado em 1860. Ele confirmara-se para além de toda a expectativa, e isso nas situações de guerra mais diversas. Que a espingarda de agulha era de longe superior à arma de carregar pela boca e que se compreendia como utilizá-la corretamente, provou-o o combate de Lyngby na Jutlântia, onde oitenta prussianos postados atrás de um bosque puseram em fuga, pelo seu fogo rápido, o triplo dos dinamarqueses. Ao mesmo tempo, teve-se ocasião de observar como os austríacos, da guerra italiana e da maneira de lutar dos franceses, só tinham retirado a lição de que para nada serve atirar, o verdadeiro soldado tem logo de carregar sobre o inimigo à baioneta; tomou-se boa nota disso, pois, à boca da arma de carregar pela culatra, não se podia desejar táctica inimiga mais oportuna. E para pôr o mais rapidamente possível os austríacos em estado de se convencerem disso na prática, os ducados foram entregues, em tempo de paz, à soberania comum da Áustria e da Prússia; criou-se assim uma situação puramente provisória que tinha de provocar conflito atrás de conflito e que pôs inteiramente nas mãos de Bismarck a ocasião para quando quisesse utilizar tal conflito no seu grande golpe contra a Áustria. Segundo o costume da política prussiana de “explorar sem escrúpulos, até ao extremo” uma situação favorável, como diz o Sr. von Sybel, era evidente que a pretexto da libertação de alemães da opressão dinamarquesa fossem anexados à Alemanha duzentos mil dinamarqueses do Schleswig do Norte. Mas quem saiu de mãos vazias foi o candidato dos pequenos Estados e da burguesia alemã ao trono do Schleswig-Holstein, o duque de Augustenburg.
Assim fizera Bismarck, nos ducados, a vontade à burguesia alemã contra a vontade da burguesia alemã. Expulsara os dinamarqueses, desafiara o estrangeiro e o estrangeiro não se mexera. Porém, os ducados, logo que libertos, foram tratados como pais conquistado, não se lhes perguntou pela sua vontade, mas foram, sem rodeios, provisoriamente partilhados entre a Áustria e a Prússia.
A Prússia tornou-se de novo uma grande potência, já não era a quinta roda no carro europeu; o cumprimento dos desejos nacionais da burguesia estava no melhor caminho, mas a via escolhida não era a [via] liberal da burguesia. O conflito prussiano sobre o serviço militar perdurava, pois; tornava-se mesmo cada vez mais insolúvel. O segundo ato da ação principal(33*) de Bismarck tinha de ser iniciado.
A guerra dinamarquesa tinha cumprido uma parte dos desejos nacionais. O Schleswig-Holstein estava “liberto”, o protocolo de Varsóvia e de Londres, em que as grandes potências tinham ratificado a humilhação da Alemanha face à Dinamarca, era-lhes atirado aos pés, rasgado, e elas não tinham bulido. A Áustria e a Prússia estavam de novo juntas, as tropas de ambas tinham vencido lado a lado e já nenhum potentado pensava em violar território alemão. Os apetites renanos de Luís Napoleão, até então empurrados para segundo plano por outros afazeres — a revolução italiana, o levantamento polaco, as complicações dinamarquesas, por último a expedição do México —, já não tinham agora qualquer perspectiva. Para um homem de Estado conservador prussiano a situação mundial correspondia, pois, no exterior, inteiramente aos seus desejos. Mas Bismarck nunca foi conservador até 1871 — e nesta altura com maior razão — e a burguesia alemã não estava de modo nenhum satisfeita.
Antes como depois, a burguesia alemã movia-se na contradição conhecida. Por um lado, exigia o poder político exclusivo para si, isto é, para um ministério escolhido entre a maioria liberal da câmara; e um tal ministério teria tido de conduzir uma luta de dez anos contra o velho sistema defendido pela coroa, até que a sua nova posição de poder fosse definitivamente reconhecida; dez anos, portanto, de enfraquecimento interno. Mas, por outro lado, ela reclamava uma transformação revolucionária da Alemanha que só pela violência, logo por uma ditadura efetiva, era exequível. E com isso, desde 1848, a burguesia tinha dado provas, vezes seguidas, em cada momento decisivo, de que não possuía vestígio da energia necessária para executar quer uma, quer outra coisa — muito menos as duas. Na política só há dois poderes decisivos: a violência organizada do Estado, o exército, e a violência inorganizada, elementar, das massas populares. Apelar às massas, tinha-o a burguesia desaprendido em 1848; isso receava-o ela mais ainda do que ao absolutismo. Mas o exército não estava de modo nenhum à sua disposição. Estava, porém, à disposição de Bismarck.
No conflito constitucional que ainda perdurava, Bismarck combatera até ao extremo as exigências parlamentares da burguesia, mas ardia de desejo por executar as exigências nacionais daquela; é que elas concordavam com os mais secretos votos cordiais da política prussiana. Se agora, mais uma vez, ele fazia a vontade à burguesia contra a vontade da burguesia, se tornava a unificação da Alemanha, tal como a burguesia a tinha formulado, uma verdade, então estava o conflito afastado por si mesmo e Bismarck tinha por isso mesmo de se tornar o ídolo dos burgueses, tal como Luís Napoleão, seu modelo.
A burguesia fornecia-lhe a meta, Luís Napoleão o caminho para a meta; só a execução permaneceu obra de Bismarck.
Para colocar a Prússia à cabeça da Alemanha, não só se tinha de empurrar, com violência, a Áustria para fora da Confederação Alemã, mas também subjugar os pequenos Estados. Uma tal guerra fresca e alegre de alemães contra alemães tinha sido desde sempre, na política prussiana, o meio principal do alargamento do território; nenhum bom prussiano receava algo de semelhante. Tampouco podia, de qualquer modo, suscitar escrúpulos o segundo meio principal: a aliança com o estrangeiro contra alemães. Tinha-se no bolso o sentimental Alexandre da Rússia. Luís Napoleão nunca desconhecera, na Alemanha, a vocação piemontesa da Prússia e estava inteiramente pronto a fazer um negociozinho com Bismarck. Se pudesse obter por via pacífica aquilo de que precisava, na forma de compensações, ele preferiria. Também não precisava da margem esquerda do Reno inteira de uma só vez; se lhe fosse dada a retalho, um pedaço a cada novo progresso da Prússia, notar-se-ia menos e sempre conduziria à meta. Aos olhos do chauvinista francês uma milha quadrada no Reno valia bem a Sabóia e Nice inteiras. Tratou-se pois com Luís Napoleão e obteve-se a sua autorização para o aumento da Prússia e para uma Confederação da Alemanha do Norte. Está fora de dúvida(34*) que lhe foi oferecido, para isso, um pedaço de território alemão no Reno; nas negociações com Govone, Bismarck falou da Baviera renana e do Hessen renano. É certo que ele desmentiu isso depois. Mas um diplomata, nomeadamente prussiano, tem o seu próprio parecer acerca dos limites nos quais se está legitimado ou mesmo obrigado a violentar suavemente a verdade. A verdade é mulher, portanto tem de gostar particularmente disso, segundo a representação do Junker. Luís Napoleão não era tão tolo que permitisse o aumento da Prússia sem que a Prússia lhe prometesse compensação; mais depressa teria Bleichröder emprestado dinheiro sem juros. Mas ele não conhecia suficientemente os seus prussianos e foi finalmente intrujado. Numa palavra, quando se o teve seguro, houve a aliança com a Itália para o “golpe no coração”.
O filisteu de diversos países indignou-se profundamente acerca desta expressão. Inteiramente sem razão. À la guerre comme à la guerre(35*). A expressão demonstra meramente que Bismarck reconhecia na guerra civil alemã de 1866 o que ela era, isto é, uma revolução, e que estava pronto a fazer prevalecer esta revolução com meios revolucionários. E foi o que fez. O seu procedimento face ao Parlamento Federal foi revolucionário. Em vez de se submeter à decisão constitucional das autoridades da Confederação, repreendeu-lhes a sua violação da Confederação — um puro pretexto —, rompeu a Confederação, proclamou uma nova Constituição com um Parlamento Imperial eleito pelo sufrágio universal revolucionário e expulsou finalmente de Frankfurt o Parlamento Federal. Na Alta Silésia organizou uma legião húngara sob o comando do general da revolução Klapka e de outros oficiais da revolução, cujas tropas, compostas por desertores e prisioneiros de guerra húngaros, deviam fazer a guerra contra os seus próprios chefes legítimos(36*). Depois da conquista da Boémia, Bismarck dirigiu uma proclamação “aos habitantes do glorioso reino da Boémia” cujo conteúdo também era uma rude bofetada nas tradições da legitimidade. Na paz, ele tomou para a Prússia as possessões inteiras de três legítimos príncipes confederados alemães e de uma cidade livre(37*), sem que esta expulsão de príncipes, que não eram menos “de direito divino” que o rei da Prússia, incomodasse de maneira alguma a sua consciência cristã e legitimista. Numa palavra, foi uma revolução completa, executada com meios revolucionários. Naturalmente, somos os últimos a reprovar-lhe isso. O que lhe reprovamos, pelo contrário, é ele não ter sido suficientemente revolucionário, só ter sido revolucionário prussiano de cima, ter iniciado toda uma revolução numa posição em que só a podia executar por metade e que, uma vez na via das anexações, se tenha contentado com quatro miseráveis pequenos Estados.
Mas agora, vinha atrás, a coxear, o Napoleão pequeno, e exigia a sua paga. Durante a guerra, ele tinha podido tomar no Reno o que lhe aprouvesse; não só o país mas também as praças-fortes estavam a descoberto. Ele hesitou; esperava uma guerra demorada, que enfraquecesse ambas as partes — e vieram esses golpes rápidos, a derrota da Áustria em oito dias. Ele exigiu primeiro a Baviera renana e o Hessen renano com Mainz — o que Bismarck designou ao general Govone como território de indemnização possível. Mas agora já Bismarck não o podia dar, mesmo se quisesse. Os poderosos êxitos da guerra tinham-lhe imposto novas obrigações. No instante em que a Prússia se arvorava em proteção e abrigo da Alemanha, ela não podia desfazer-se, para o estrangeiro, de Mainz, a chave do Reno central. Bismarck recusou. Luís Napoleão consentiu em negociar; só já reclamava o Luxemburgo, Landau, Saarlouis e o sector carbonífero de Saarbruck. Mas também isto Bismarck já não podia ceder, tanto menos quanto também nisto era reivindicado território prussiano. Por que não lhes tinha mesmo Luís Napoleão deitado a mão em tempo oportuno, quando os prussianos estavam retidos na Boémia? Enfim, não houve compensações para a França. Bismarck sabia que isso significava uma guerra ulterior com a França; mas era isso precisamente que lhe convinha.
Nas conclusões de paz, a Prússia não utilizou desta vez tão sem escrúpulos a situação favorável, como antes era seu hábito em caso de êxito. E com boas razões. A Saxónia e o Hessen-Darmstadt foram integrados na nova Confederação da Alemanha do Norte e já por isso foram poupados. A Baviera, Wurttemberg e Baden tinham de ser tratados com brandura, porque Bismarck tinha de concluir com eles as alianças defensivas e ofensivas secretas. E a Áustria — não lhe prestara Bismarck um serviço ao quebrar as complicações tradicionais que a amarravam à Alemanha e à Itália? Não lhe conseguira ele, agora, a posição de grande potência independente a que há muito aspirava? Não soubera ele, de facto, melhor que a própria Áustria, o que servia a Áustria, ao vencê-la na Boémia? Não tinha a Áustria de perceber, manejando ajustadamente, que a situação geográfica, a barreira recíproca dos dois países, fazia da Alemanha unificada à maneira prussiana a sua aliada necessária e natural?
Aconteceu assim que a Prússia, pela primeira vez na sua existência, podia rodear-se do brilho da generosidade — porque atirava com uma salsicha para [apanhar] um presunto(38*).
Nem só a Áustria foi batida nos campos de batalha da Boémia — também o foi a burguesia alemã. Bismarck tinha-lhe demonstrado que sabia melhor que ela mesma o que era proveitoso para ela. Do lado da câmara não era de pensar num prosseguimento do conflito. As reivindicações liberais da burguesia estavam há muito tempo enterradas, mas as suas exigências nacionais mais se cumpriam dia após dia. Com uma rapidez e uma precisão que a deixavam ela mesma admirada, Bismarck realizava o programa nacional daquela. E depois de lhe ter provado de maneira palpável, in corpore vili(39*), no próprio corpo sórdido que era o dela, a sua sonolência e falta de energia — e, com isso, a sua incapacidade total para a execução do seu próprio programa — ele fez também de generoso perante ela e veio à câmara agora efetivamente desarmada, por motivo de uma indemnidade ao governo do conflito, contrário à Constituição. Comovida até às lágrimas, a câmara consentiu no avanço, de ora em diante inofensivo.
Apesar disso, foi lembrado à burguesia que também ela tinha sido vencida em Königgrätz. A Constituição da Confederação da Alemanha do Norte foi talhada segundo o padrão da Constituição prussiana autenticamente interpretada pelo conflito. A recusa do imposto foi proibida. O chanceler federal e os seus ministros foram nomeados pelo rei da Prússia, independentemente de qualquer maioria parlamentar. A independência do exército para com o Parlamento, assegurada pelo conflito, foi também mantida face ao Parlamento Imperial. Mas, em contrapartida, os membros deste Parlamento Imperial tinham a elevada consciência de que eram eleitos por sufrágio universal. Deste facto também eles eram lembrados e de maneira bem desagradável, à vista dos dois socialistas(41*) que tinham assento entre eles. Pela primeira vez apareciam deputados socialistas, representantes do proletariado, num corpo parlamentar. Era um sinal de mau presságio iminente.
Primeiramente, tudo isso não tinha significado. Tratava-se agora de acabar e explorar a nova unidade do império, pelo menos a do Norte, no interesse da burguesia, e de atrair, também, através disso, os burgueses da Alemanha do Sul para a nova Confederação. A Constituição da Confederação subtraía as relações economicamente mais importantes à legislação de cada Estado singular e remetia a sua regulamentação para a Confederação: direito civil comum e livre circulação em todo o território da Confederação, direito de domicílio, legislação sobre ofícios, comércio, alfândegas, navegação, moedas, pesos e medidas, caminhos-de-ferro, canais, correios e telégrafos, patentes, bancos, toda a política externa, consulados, proteção ao comércio no estrangeiro, polícia médica, direito penal, processo judicial, etc. A maioria destes objetos foi rapidamente ordenada por leis e, no conjunto, de modo liberal. E assim foram finalmente eliminados — finalmente! — os piores abusos do sistema de pequenos Estados, que o mais das vezes obstruíam o caminho, por um lado, ao desenvolvimento capitalista, por outro, aos apetites prussianos de dominação. Mas isso não era conquista histórico-mundial nenhuma, como o trombeteava o burguês a tornar-se agora chauvinista; era antes uma muito, muito tardia e imperfeita imitação do que a Revolução Francesa já tinha feito sessenta anos mais cedo e que há muito todos os Estados civilizados tinham adotado. Em vez de vanglória, dever-se-ia ter tido vergonha de que a Alemanha de “alta cultura” fosse a última a chegar lá.
Durante todo este tempo da Confederação da Alemanha do Norte, Bismarck veio de boa vontade ao encontro da burguesia no terreno econômico, e mostrou também, no tratamento de questões de poder parlamentar, punho de ferro, só que em luva de veludo. Foi o seu melhor período; aqui e além pôde-se suspeitar da sua tacanhez especificamente prussiana, da sua incapacidade de perceber que há na história mundial outros e mais fortes poderes que exércitos e artimanhas de diplomatas apoiadas em exércitos.
Que a paz com a Áustria trazia no bojo a guerra com a França, não só Bismarck o sabia como o queria também. Essa guerra devia oferecer precisamente o meio para o completamento do império prusso-alemão(40*) que a burguesia alemã lhe prescrevia. As tentativas para transformar gradualmente o Parlamento Aduaneiro num Parlamento Imperial e para atrair, assim, pouco a pouco, os Estados do Sul à Confederação do Norte, fracassaram ante os altos gritos dos deputados alemães do Sul: nenhum alargamento de competências! Não era mais favorável a disposição dos governos acabados de vencer no campo de batalha. Só uma nova demonstração, palpável, de que a Prússia era poderosa de mais frente a eles, mas também bastante poderosa para os proteger — por conseguinte uma nova guerra, uma guerra alemã comum, podia trazer rapidamente o momento da capitulação. E depois a linha de separação do Meno, que antes fora secretamente combinada entre Bismarck e Luís Napoleão, tinha contudo sido aparentemente imposta por este à Prússia, após a vitória; a unificação com a Alemanha do Sul era, pois, violação do direito, reconhecido desta vez formalmente, dos franceses à fragmentação da Alemanha, era caso de guerra.
Entretanto, Luís Napoleão tinha de ver se encontrava algures na fronteira alemã um farrapo de terra que embolsasse como compensação de Sadowa. Na recente formação da Confederação da Alemanha do Norte, o Luxemburgo tinha sido excluído; era, pois, agora, um Estado que se encontrava em união pessoal com a Holanda, mas de resto um Estado inteiramente independente. Além disso, era aproximadamente tão afrancesado como a Alsácia e tinha decididamente muito mais inclinação pela França do que pela Prússia, positivamento detestada.
O Luxemburgo é um exemplo flagrante daquilo que a miséria política alemã fez, desde a Idade Média, das terras fronteiriças franco-alemãs, e tanto mais flagrante quanto o Luxemburgo pertenceu nominalmente à Alemanha até 1866. Composto, até 1830, de uma metade francesa e de outra alemã, já cedo a parte alemã sofria a influência da civilização francesa, superior. Os imperadores alemães luxemburgueses(42*) eram franceses pela língua e pela cultura. Desde a incorporação no país borgonhês (1440), o Luxemburgo permaneceu, como os restantes Países Baixos, em associação apenas nominal com a Alemanha; a sua admissão na Confederação Alemã de 1815 nada alterou também. Depois de 1830, a parte francesa e ainda uma bonita fatia da parte alemã couberam à Bélgica. Mas no restante Luxemburgo alemão tudo ficou ao modo francês: os tribunais, os serviços públicos, a câmara, tudo tratava em francês; todos os documentos públicos e privados, todos os livros de comércio eram redigidos em francês, todas as escolas secundárias ensinavam em francês, a língua culta era e permanecia o francês — um francês, naturalmente, que gemia e arfava sob o fardo da alteração consonântica do alto-alemão. Em suma, eram faladas duas línguas no Luxemburgo: um dialecto popular renano-francónio e o francês, mas o alto-alemão permanecia uma língua estrangeira. A guarnição prussiana da Capital tornava isto tudo antes pior do que melhor. É bastante vergonhoso para a Alemanha, mas é verdade. E este afrancesamento consentido do Luxemburgo coloca também a uma luz correta o curso semelhante das coisas na Alsácia e na Lorena alemã.
O rei da Holanda(43*), duque soberano de Luxemburgo, sabia muito bem servir-se de dinheiro a pronto e mostrava-se disposto a vender o ducado a Luís Napoleão. Os luxemburgueses teriam aceitado incondicionalmente a sua incorporação na França — como o prova a sua atitude na guerra de 1870. A Prússia nada podia objectar do ponto de vista do direito internacional [völkerrechtlich], porque ela própria tinha operado a exclusão do Luxemburgo da Alemanha. As suas tropas estacionavam na capital como guarnição federal de uma praça-forte federal alemã; assim que o Luxemburgo deixou de ser praça-forte federal, elas já não tinham qualquer razão de ali estar. Mas por que não regressaram a casa, por que não podia Bismarck consentir na anexação?
Simplesmente porque as contradições em que ele se embrulhara vinham agora à luz do dia. Antes de 1866 a Alemanha ainda era para a Prússia puro território de anexação, onde se tinha de repartir com o estrangeiro. Depois de 1866, a Alemanha tornara-se protetorado prussiano, que tinha de ser defendido das garras estrangeiras. Certamente que, por considerandos prussianos, se tinham excluído pedaços alemães inteiros da chamada Alemanha recém-fundada. Mas o direito da nação alemã à integralidade do seu próprio território impunha agora à coroa da Prússia a obrigação de impedir a incorporação desses pedaços do antigo território federal em Estados estrangeiros, de deixar-lhes em aberto, para o futuro, a integração [Anschluss] no novo Estado prusso-alemão. Por isso se tinha feito parar a Itália na fronteira do Tirol, por isso não podia agora o Luxemburgo passar para Luís Napoleão. Um governo realmente revolucionário podia declarar isso abertamente. Não assim o revolucionário [Revolutionär] regiamente prussiano, que finalmente acabara por conseguir transformar a Alemanha num “conceito geográfico” metternichiano. Do ponto de vista do direito internacional, ele mesmo se colocara fora da razão e só podia socorrer-se do direito internacional por aplicação da sua amada interpretação de patuscada de estudantes.
Se com isso não se tornou francamente ridículo, foi apenas porque Luís Napoleão, na Primavera de 1867, ainda não estava de modo nenhum preparado para uma grande guerra. Houve acordo na conferência de Londres. Os prussianos evacuaram o Luxemburgo; a praça-forte foi demolida, o ducado foi declarado neutral. A guerra foi adiada outra vez.
Luís Napoleão não podia sossegar com isso. O aumento de poder da Prússia estava, para ele, inteiramente certo, desde que obtivesse no Reno as compensações correspondentes. Ele queria contentar-se com pouco; deste pouco ainda fizera um abatimento mas sem nada ter obtido, fora completamente intrujado. Um império bonapartista em França, porém, só era possível se empurrasse gradualmente a fronteira para o Reno e se a França — na realidade ou mesmo na imaginação — permanecesse árbitro da Europa. A deslocação da fronteira falhara, a posição de arbitragem estava já ameaçada, a imprensa bonapartista gritava pela desforra de Sadowa; se Luís Napoleão queria manter o seu trono, tinha de permanecer fiel ao seu papel e de ir buscar pela violência o que não tinha obtido às boas, apesar de todos os serviços prestados.
De ambos os lados, pois, intensos preparativos de guerra, quer diplomáticos, quer militares. E ocorreu então o seguinte acontecimento diplomático:
A Espanha procurava um candidato ao trono. Em Março [1869], Benedetti, plenipotenciário francês em Berlim, ouve rumores de uma pretensão ao trono por parte do príncipe Leopoldo de Hohenzollern; [Benedetti] recebe ordem de Paris para investigar a coisa. O subsecretário de Estado von Thile garante sob palavra de honra que o governo prussiano nada sabe acerca disso. Numa visita a Paris, Benedetti vem a conhecer a opinião do imperador:
“Esta candidatura é essencialmente antinacional, o país não a tolerará, tem de ser impedida.”
Diga-se de passagem que Luís Napoleão provava aqui que já tinha descido muito baixo. De facto, podia lá haver mais bela “vingança de Sadowa” do que o reinado de um príncipe prussiano em Espanha, os dissabores inevitavelmente daí decorrentes, o embaraço da Prússia nas relações internas dos partidos espanhóis, talvez até uma guerra, uma derrota da minúscula frota prussiana, em todo o caso a Prússia levada, perante a Europa, a uma situação sumamente grotesca? Mas Luís Bonaparte já não podia permitir-se esse espetáculo. O seu crédito estava tão abalado que ele se mantinha ligado ao ponto de vista tradicional segundo o qual um príncipe alemão no trono espanhol poria a França entre dois fogos, e portanto não era de tolerar — ponto de vista infantil desde 1830.
Benedetti procurou, pois, Bismarck, para obter mais esclarecimentos e para lhe tornar claro o ponto de vista da França (11 de Maio de 1869). Ele não veio a conhecer de Bismarck nada de particularmente determinado. Mas Bismarck bem ficou a conhecer por ele o que queria saber: que a apresentação da candidatura de Leopoldo significava a guerra imediata com a França. Estava assim na mão de Bismarck fazer rebentar a guerra quando lhe aprouvesse.
De facto, a candidatura de Leopoldo surgiu outra vez em Julho de 1870 e conduziu logo à guerra, por muito que se eriçasse Luís Napoleão contra ela. Não viu só que tinha caído numa armadilha. Soube também que se tratava do seu império; tinha pouca confiança na veracidade dos seus bandos de celerados [Schwefelbande] bonapartistas, que lhe garantiam estar tudo pronto até ao último botão de polaina, e menos confiança ainda na sua habilidade militar e administrativa. Mas as consequências lógicas do seu próprio passado empurravam-no para a perdição; mesmo a sua irresolução apressava a sua queda.
Em contrapartida, não só Bismarck estava inteiramente pronto para a batalha do ponto de vista militar, mas tinha de facto, desta vez, o povo atrás de si, [povo] que só via uma coisa, através de todas as mentiras diplomáticas de ambos os lados: tratava-se aqui de uma guerra não só pelo Reno, mas pela existência nacional. Reservas e Landwehr — pela primeira vez desde 1813 — de novo acorriam prontamente às fileiras, desejosas de luta. Pouco importava como tudo isso acontecera, pouco importava que pedaço da herança nacional bimilenária Bismarck, por iniciativa própria, prometera ou não prometera a Luís Napoleão: tratava-se de ensinar uma vez por todas ao estrangeiro que não tem que imiscuir-se nas coisas internas alemãs e que a Alemanha não era chamada a amparar o trono vacilante de Luís Napoleão por cedência de território alemão. E perante este levantamento nacional dissipavam-se todas as diferenças de classe, diluíam-se todos os apetites de Confederação renana das cortes da Alemanha do Sul, todas as tentativas de restauração de príncipes banidos.
Ambas as partes tinham solicitado alianças. Luís Napoleão tinha seguras a Áustria e a Dinamarca, bastante segura a Itália. Bismarck tinha a Rússia. Mas a Áustria, como sempre, não estava pronta, não pôde intervir ativamente antes de 2 de Setembro — e a 2 de Setembro estava Luís Napoleão prisioneiro de guerra dos alemães, e a Rússia avisara a Áustria de que esta seria atacada assim que atacasse a Prússia. Mas na Itália desforrava-se a política pérfida de Luís Napoleão: ele pusera em marcha a unidade nacional, mas queria com isso proteger o papa dessa mesma unidade nacional; ocupara Roma com tropas de que precisava agora no país e que não podia retirar sem antes obrigar a Itália a respeitar Roma e o papa como soberano; o que, por sua vez, impedia a Itália de lhe acudir. Por último, a Dinamarca recebeu da Rússia a ordem de se manter quieta.
Mais decisivos, porém, do que todas as negociações diplomáticas, agiram na localização da guerra os golpes rápidos das armas alemãs, de Spichern e Wörth até Sedan. O exército de Luís Napoleão sucumbia em cada combate e, finalmente, três quartas partes dele encaminharam-se para a Alemanha prisioneiras de guerra. Isso não foi culpa dos soldados, que se bateram bastante corajosamente, mas antes dos chefes e da administração. Mas quando se conseguiu um império, como Luís Napoleão, com a ajuda de um bando de vagabundos, quando se manteve esse império durante dezoito anos só porque se entregou a França, para exploração, a esse mesmo bando, quando se ocuparam todos os postos decisivos do Estado com gente desse bando, precisamente, e todos os lugares subalternos com os seus cúmplices, então não se deve empreender nenhuma luta de vida ou de morte, se não se quer ficar ao desamparo. Em menos de cinco semanas desmoronou-se todo o edifício do Império, que durante anos fora o espanto dos filisteus europeus; a revolução do 4 de Setembro só removeu os escombros; e Bismarck, que partira para a guerra para fundar um império pequeno-alemão [kleindeutsches Kaiserreich], achou-se uma bela manhã fundador de uma república francesa.
Segundo a própria proclamação de Bismarck, a guerra não fora conduzida contra o povo francês, mas contra Luís Napoleão. Com a queda deste, desaparecia também todo o fundamento para a guerra. Isto também imaginava o governo do 4 de Setembro — não tão ingênuo, aliás — e ficou muito surpreendido quando Bismarck bruscamente mostrou o seu avesso de Junker prussiano.
Ninguém no mundo tem tamanho ódio aos franceses quanto o Junker prussiano. É que não só o Junker, até aí livre de impostos, tinha duramente sofrido durante o castigo infligido pelos franceses, de 1806 a 1813 — castigo que ele atraiu a si pela sua própria vaidade; pior ainda, os ímpios franceses tinham a tal ponto transviado as cabeças, com a sua revolução sacrílega, que o antigo esplendor junker fora na sua maior parte sepultado, mesmo na velha Prússia; que os pobres Junker tinham de conduzir uma dura luta, ano após ano, pelos últimos restos deste esplendor, e que uma grande parte de entre eles tinha já decaído até ao nível de uma pelintra nobreza de parasitas. Tinha de ser tirada vingança da França por causa disso e os oficiais junker no exército cuidaram disso sob a direcção de Bismarck. Tinham sido feitas listas das contribuições de guerra que os franceses exigiram à Prússia e mediram-se a partir daí os impostos a levantar de cada cidade e departamento — mas, naturalmente, tomando em consideração a riqueza muito maior da França. Requisitaram-se víveres, forragem, vestuário, calçado, etc, com brutalidade ostensiva. Um burgomestre, nas Ardenas, que declarou não poder fazer a entrega, recebeu sem mais vinte e cinco bastonadas; o governo de Paris publicou a prova oficial disso. Os franco-atiradores, que agiam tão precisamente segundo as prescrições do regulamento prussiano de 1813 da milícia territorial [Landsturm] como se o tivessem expressamente estudado, foram fuzilados sem piedade onde foram apanhados. Também as histórias de relógios de pêndulo enviados para a Alemanha são verdadeiras, mesmo a Könische Zeitung noticiou isso. Só que, segundo conceitos prussianos, estes relógios de pêndulo não eram roubados, mas bens sem dono encontrados em casas de campo abandonadas dos arredores de Paris, e anexados para os entes queridos na pátria. E foi assim que os Junker, sob a direcção de Bismarck, tiveram o cuidado de conservar e de inculcar nos franceses o carácter especificamente prussiano da guerra — apesar da atitude irrepreensível quer das tropas quer de uma grande parte dos oficiais — mas também o cuidado de que os franceses responsabilizassem o exército inteiro pela odiosidade mesquinha dos Junker.
E, porém, estava reservado a estes Junker prestar ao povo francês uma honra inigualada, até à data, em toda a história. Quando falharam todas as tentativas para fazer levantar o cerco de Paris, repelidos todos os exércitos franceses, falhada a última grande ofensiva de Bourbaki na linha de comunicação dos alemães, quando toda a diplomacia da Europa, sem mexer um só dedo, abandonou a França ao seu destino, finalmente, esfomeada, Paris teve de capitular. E o coração dos Junker bateu mais forte quando finalmente puderam entrar, triunfantes, no ninho ímpio e tirar plena vingança dos inveterados rebeldes de Paris — a plena vingança que lhes fora interdita em 1814 por Alexandre da Rússia e em 1815 por Wellington; podiam agora castigar à vontade o foco e a pátria da revolução.
Paris capitulou; pagou 200 milhões como imposto de guerra; os fortes foram entregues aos prussianos; a guarnição depôs as armas perante os vencedores e entregou a sua artilharia de campanha; os canhões da muralha foram retirados das suas carretas; todos os meios de resistência pertencentes ao Estado foram entregues peça a peça — mas não se tocou nos defensores de Paris propriamente ditos, a guarda nacional, o povo de Paris em armas, a quem ninguém pediu que entregasse as armas, nem espingardas, nem canhões(44*); e assim foi conhecido de todo o mundo que o exército alemão vitorioso se deteve, respeitoso, perante o povo armado de Paris, os vencedores não entraram em Paris, mas tiveram de se contentar com a ocupação, durante três dias, dos Champs-Elysées(45*)— um jardim público! — guardados, vigiados e bloqueados ao redor pelas sentinelas dos parisienses! Nenhum soldado alemão pôs os pés no Município [Stadthaus] de Paris, nenhum pisou as avenidas, e os poucos que foram admitidos no Louvre para admirar os tesouros artísticos tiveram de pedir autorização, era quebra da capitulação. A França estava abatida, Paris esfomeada, mas o povo parisiense, pelo seu passado glorioso, tinha assegurado o respeito a tal ponto que nenhum vencedor ousava exigir desarmá-lo, nenhum tinha a coragem de procurá-lo em casa e de profanar com uma marcha triunfal essas ruas, campo de batalha de tantas revoluções. Era como se o imperador alemão de fresca data(46*) tirasse o chapéu diante dos revolucionários de Paris vivos, como outrora o seu irmão(47*) diante dos combatentes de Março de Berlim mortos, e como se atrás dele estivesse e apresentasse armas o exército alemão inteiro.
Mas também foi o único sacrifício que Bismarck teve de impor-se. Sob pretexto de que não havia em França nenhum governo que com ele pudesse concluir a paz — o que era exatamente tão verdadeiro e tão falso a 4 de Setembro como a 28 de Janeiro —, tinha aproveitado genuinamente, à prussiana, os seus êxitos até à última gota e só se declarara pronto para a paz depois do completo esmagamento da França. Mesmo na conclusão da paz, foi outra vez “aproveitada sem escrúpulos a situação favorável”, como se diz em bom prussiano antigo. Não só se extorquiu a soma inaudita de cinco mil milhões de indemnização de guerra, mas também se arrancaram da França e se incorporaram na Alemanha duas províncias, a Alsácia e a Lorena alemã, com Metz e Estrasburgo. Com esta anexação, Bismarck intervém pela primeira vez como político independente, que já não conduz à sua maneira um programa que lhe é prescrito do exterior, mas traduz em factos os produtos do seu próprio cérebro; e com isso comete ele o seu primeiro disparate colossal(48*).
A Alsácia foi conquistada pela França, quanto ao principal, na guerra dos Trinta Anos. Com isso esquecera Richelieu o sólido princípio de Henrique IV:
“Que a língua espanhola seja para o espanhol, a alemã para o alemão; mas onde se fala francês, isso é comigo”;
ele [Richelieu] apoiou-se no princípio da fronteira natural do Reno, da fronteira histórica da Gália antiga. Isso era loucura; mas o Império alemão(49*), que incluía os domínios linguísticos franceses da Lorena e da Bélgica e até do Franche-Comté(50*), não tinha o direito de reprovar à França a anexação de países de língua alemã. E se Luís XIV, em plena paz, se apoderou de Estrasburgo em 1681, com a ajuda de um partido de inspiração francesa na cidade, ficava mal à Prússia indignar-se com isso, depois de ter violentado do mesmo modo, se bem que sem êxito, a cidade imperial livre de Nuremberg, certamente sem ter sido chamada por um partido prussiano(51*).
A Lorena foi vendida ao desbarato pela Áustria à França em 1735, quando da paz de Viena, e acabou por tornar-se possessão francesa em 1766. Desde há séculos que ela só nominalmente pertencia ao Império alemão, os seus duques eram franceses sob todos os aspectos e quase sempre aliados da França.
Existiu nos Vosgos, até à Revolução Francesa, uma quantidade de pequenos senhorios que se comportavam, face à Alemanha, como Estados imediatos do Império [reichsunmittelbare Reichstände] mas, que, face à França, tinham reconhecido a sua suserania; eles tiravam vantagem desta posição híbrida e, se o Império alemão tolerava isso em vez de pedir contas aos senhores dinastas, não podia queixar-se quando a França, por força da sua suserania, tomava sob proteção os habitantes destes territórios contra os dinastas banidos.
No conjunto, este território alemão não foi quase nada afrancesado até à Revolução. O alemão permaneceu língua escolar e administrativa nas relações internas, pelo menos da Alsácia. O governo francês favoreceu as províncias alemãs, que conseguiam agora, após devastações de guerra de longos anos, já não ver nenhum inimigo no seu solo, desde o começo do século dezoito. Dilacerado por eternas guerras intestinas, o Império alemão não era deveras feito para atrair os alsacianos a regressarem ao seio materno; pelo menos tinha-se sossego e paz, sabia-se em que ponto se estava e assim se conformava com o desígnio insondável de Deus o filistério [Philisterium] que dava o tom. Contudo, o destino dos alsacianos não era sem exemplo, pois também os habitantes do Holstein estavam sob dominação estrangeira dinamarquesa.
Veio a Revolução Francesa. O que a Alsácia e a Lorena nunca tinham ousado esperar da Alemanha foi-lhes oferecido pela França. As grilhetas feudais foram quebradas. O camponês servo, sujeito à corveia, tornou-se um homem livre, em muitos casos proprietário livre da sua granja [Gehöft] e do seu campo. Nas cidades, a dominação dos patrícios e os privilégios das corporações desapareceram. A nobreza foi banida. E nos territórios dos pequenos príncipes e senhores os camponeses seguiram o exemplo dos vizinhos, expulsaram os dinastas, as câmaras do governo e a nobreza e declararam-se cidadãos franceses livres. Em parte nenhuma da França o povo abraçou com mais entusiasmo a Revolução do que, precisamente, na de fala alemã. E então quando o Império alemão declarou guerra à Revolução, quando os alemães, que não só ainda traziam obedientemente as suas próprias cadeias, se prestaram, para mais, a impor de novo aos franceses a antiga servidão e aos camponeses alsacianos os senhores feudais que acabavam de ser banidos, acabou-se o carácter alemão [Deutschheit] dos alsacianos e lorenos, que aprenderam aí a detestar e a desprezar os alemães; em Estrasburgo foi então escrita, composta e pela primeira vez cantada por alsacianos a Marseillaise(52*); apesar da língua e do passado, abundaram os franceses-alemães em centenas de campos de batalha, na luta pela Revolução, conjuntamente num só povo com os franceses de nacionalidade.
Não realizou a grande Revolução o mesmo prodígio com os flamengos de Dunquerque, com os celtas da Bretanha, com os italianos da Córsega? E quando nos queixamos de que isso tenha também acontecido com alemães, esquecemos então toda a nossa história, que o tornou possível? Teremos esquecido que toda a margem esquerda do Reno, que só passivamente participou na Revolução, tinha sentimentos franceses quando os alemães ali regressaram em 1814 e de sentimentos franceses ficou até 1848, quando a Revolução reabilitou os alemães aos olhos dos renanos? Que o entusiasmo de Heine pelos franceses, e mesmo o seu bonapartismo(53*), não eram outra coisa do que o eco da disposição geral do povo da margem esquerda do Reno?
Quando da entrada dos aliados, em 1814, foi precisamente na Alsácia e na Lorena alemã que eles encontraram a inimizade mais decidida, a resistência mais rude no povo mesmo; porque se sentia, aqui, o perigo de ter de voltar a ser alemão. E, contudo, ali ainda só quase se falava alemão nesse tempo. Mas quando passou o perigo de serem extorquidas à França, quando acabou o apetite de anexação dos chauvinistas alemães-românticos, perceberam a necessidade de se integrarem cada vez mais na França, do ponto de vista linguístico também; e desde então introduziu-se o mesmo afrancesamento das escolas que os luxemburgueses tinham de livre vontade adotado entre eles. No entanto, o processo de transformação andou muito lentamente; só a presente geração da burguesia é realmente afrancesada, ao passo que camponeses e operários falam alemão. Está-se mais ou menos como no Luxemburgo: o alemão literário é suplantado pelo francês (excepto, parcialmente, no púlpito), mas o dialecto popular alemão só perdeu terreno na fronteira linguística e é muito mais empregue como língua corrente do que na maior parte das regiões da Alemanha.
É este o país que Bismarck e os Junker prussianos, apoiados, ao que parece, pela reanimação de um romantismo chauvinista inseparável de todas as questões alemãs, empreenderam tornar alemão outra vez. Querer tornar alemã a pátria da Marselhesa, Estrasburgo, era um contra-senso, tal qual como querer tornar francesa a pátria de Garibaldi, Nice. Contudo, em Nice, manteve Luís Napoleão a decência, fez votar a anexação — e a manobra resultou. Abstraindo de que os prussianos detestavam, por muito boas razões, tais medidas revolucionárias — ainda nunca aconteceu, onde quer que seja, que a massa do povo aspirasse à anexação pela Prússia — sabia-se muito bem que, precisamente aqui(54*), a população pendia mais unanimemente para a França do que os próprios franceses de nacionalidade. E executou-se assim o golpe de força simplesmente pela violência. Foi um pedaço da vingança contra a Revolução Francesa; extorquia-se um dos pedaços que se tinham fundido com a França precisamente com a Revolução.
Militarmente, a anexação tinha com certeza uma finalidade. Através de Metz e Estrasburgo, a Alemanha obtinha uma frente de defesa de enorme força. Enquanto a Bélgica e a Suíça permanecerem neutrais, um ataque maciço francês não pode incidir em nenhuma outra parte que não seja o estreito território entre Metz e os Vosgos; e, para isso, Coblença, Metz, Estrasburgo e Mainz formam o mais forte e o maior quadrilátero de praças-fortes do mundo. Mas este quadrilátero de praças-fortes, tal como o austríaco na Lombardia(55*), também tem metade em terra inimiga e forma ali cidadelas para a repressão da população. Mais: para o completar, teve de se usurpar fora do território de língua alemã, teve de se anexar um quarto de milhão de franceses de nacionalidade.
A grande vantagem estratégica é, pois, o único ponto que pode desculpar a anexação. Mas está este ganho em qualquer proporção com o dano que com ele se faz?
Quanto ao grande inconveniente moral em que se pôs o jovem Império alemão ao declarar a violência brutal, abertamente e sem disfarce, como seu princípio fundamental — para isso não tem olhos o Junker prussiano. Pelo contrário, para ele são uma necessidade súbditos recalcitrantes, mantidos com violência de rédea apertada; eles são demonstrações do poder prussiano acrescido; e, no fundo, nunca teve outros. Mas aquilo para que era obrigado a ter olhos era para as consequências políticas da anexação. E elas estavam claramente à luz do dia. Ainda antes de a anexação ter tido força de lei, Marx gritava ao mundo aquelas [consequências] numa circular da Internacional: “A anexação da Alsácia e da Lorena faz da Rússia o árbitro da Europa.”(56*) E os sociais-democratas repetiram-no muitas vezes da tribuna do Parlamento Imperial, até que a verdade desta proclamação foi finalmente reconhecida pelo próprio Bismarck, no seu discurso do Parlamento Imperial, de 6 de Fevereiro de 1888, no seu gemer perante o czar todo-poderoso, senhor da guerra e da paz.
Isso, contudo, era claro como a luz do dia. Ao arrancarem-se à França duas das suas províncias mais fanaticamente patrióticas empurrava-se aquela para os braços de quem lhe oferecesse a perspectiva de restituição dessas províncias, fazia-se da França um inimigo eterno. Com certeza Bismarck — que a este respeito representa digna e conscienciosamente os filisteus alemães — reclama dos franceses que renunciem à Alsácia-Lorena não só do ponto de vista do direito público mas também moralmente, que ainda se alegrem devidamente por estes dois pedaços da França revolucionária “serem reentregues à antiga mãe pátria”, coisa de que eles rotundamente não querem ouvir falar. Infelizmente, porém, os franceses fazem-no tão pouco quanto os alemães, durante as guerras napoleônicas, renunciaram moralmente à margem esquerda do Reno, embora esta de modo nenhum tivesse, nesse tempo, saudades deles. Enquanto os alsacianos e os lorenos reclamarem regressar à França, tem e terá a França de esforçar-se pela sua recuperação e procurar os meios para tal, logo, entre outras coisas, procurar aliados. E o aliado natural contra a Alemanha é a Rússia.
Se as duas maiores e mais fortes nações da parte ocidental do continente se neutralizam mutuamente pela sua hostilidade, se até mesmo há entre elas um eterno pomo de discórdia que as excita à luta uma contra a outra, então, nisso só tem vantagem a Rússia, cujas mãos ficam assim tanto mais livres; a Rússia, que será tanto menos estorvada pela Alemanha nos seus apetites de conquista quanto mais puder esperar apoio incondicional da França. E não acabou Bismarck por deixar a França na situação de mendigar aliança à Rússia, de ter de abandonar de bom grado Constantinopla à Rússia, desde que a Rússia apenas lhe prometesse as províncias perdidas? E se, não obstante, a paz foi mantida dezassete anos, donde vem isso senão do facto de o sistema de milícia introduzido na França e na Rússia necessitar pelo menos de dezasseis anos até mesmo vinte e cinco anos, depois dos recentes melhoramentos alemães — para fornecer o número completo de contingentes exercitados? E a anexação, após já ter sido durante dezassete anos o facto predominante em toda a política da Europa, não é neste instante a causa fundamental de toda a crise que ameaça com a guerra esta parte do mundo? Retire-se este único facto e a paz fica assegurada!
Com o seu francês de sotaque alto-alemão [oberdeutsch], o burguês alsaciano, esse janota atravessado que se dá ares de francês como qualquer francês de cepa, que olha Goethe de alto e se entusiasma por Racine, que não se livra com isso da má consciência do seu secreto carácter alemão e, por isso mesmo, tem de fanfarronar desdenhando de tudo o que é alemão, de tal modo que nem sequer presta para medianeiro entre a Alemanha e a França — este burguês alsaciano é certamente um sujeito desprezível, seja ele fabricante em Mulhouse ou jornalista em Paris. Mas quem fez dele o que é senão a história alemã dos últimos trezentos anos? E, até há muito pouco tempo, não eram quase todos os alemães no estrangeiro, nomeadamente os comerciantes, autênticos alsacianos, que renegavam a sua qualidade de alemães [Deutschtum], que, com uma verdadeira autocrueldade para com animais, faziam a si próprios crueldades pela nacionalidade estrangeira da sua nova pátria, e se tornavam assim, de livre vontade, no mínimo tão ridículos como os alsacianos — que, contudo, eram mais ou menos forçados a isso pelas circunstâncias? Na Inglaterra, por exemplo, toda a comunidade de comerciantes [Kaufmannschaft] alemães imigrados de 1815 a 1840 estava quase sem excepção anglicizada, quase só falava inglês entre si, e pela Bolsa de Manchester, por exemplo, ainda hoje perambulam diversos velhos filisteus alemães que dariam metade da sua fortuna para poderem passar por perfeitos ingleses. Só desde 1848 é que alguma mudança foi introduzida nisto e, desde 1870, mesmo quando o tenente de reserva vem a Inglaterra e Berlim envia aqui o seu contingente, o rastejamento de outrora é suplantado por uma arrogância prussiana que não nos torna menos ridículos no estrangeiro.
E foi nalguma coisa acomodada ao. gosto dos alsacianos a união com a Alemanha, desde 1871? Pelo contrário. Foram colocados sob ditadura, enquanto ao lado, na França, a república dominava. Intro-duziu-se entre eles a pedante e importuna administração prussiana do conselho regional [Landratswirtschaft] frente à qual é de ouro a ingerência — estritamente regida pela lei — da mal afamada administração francesa dos prefeitos. Deu-se um fim rápido aos últimos restos de liberdade de imprensa, de direito de reunião e de associação, foram dissolvidos os municípios recalcitrantes e instalados burocratas alemães como burgomestres. Em contrapartida, porém, foram lisonjeados os “notáveis”, isto é, os nobres e burgueses completamente afráncesados, e foram protegidos no seu espremer dos camponeses e operários, que, se não eram de sentimentos alemães, eram contudo de fala alemã — e formavam o único elemento com o qual se podia entabular uma tentativa de reconciliação. E que se obteve daí? Que em Fevereiro de 1887, quando a Alemanha inteira se deixou intimidar e enviou para o Parlamento Imperial a maioria do cartel de Bismarck, a Alsácia-Lorena só elegeu então franceses decididos e rejeitou todo aquele que era suspeito das mais leves simpatias alemãs.
Se agora os alsacianos são como são, temos nós direito de nos irritar com isso? De modo nenhum. A sua antipatia pela anexação é um facto histórico que exige, não ser demolido, mas esclarecido. E aí, temos de nos perguntar: quantos e quão colossais erros históricos não teve a Alemanha de cometer até se ter tornado possível esta disposição de espírito na Alsácia? E como terá de apresentar-se, visto do exterior, o nosso novo Império alemão se. após dezassete anos de tentativa de re-alemanização, os alsacianos nos gritam unanimemente: poupem-nos isso! Temos nós o direito de imaginar que duas campanhas bem sucedidas e dezassete anos de ditadura bis-marckiana bastam para apagar os efeitos todos de uma vergonhosa história de trezentos anos?
Bismarck atingia a meta. O seu novo Império prusso-alemão fora publicamente proclamado em Versalhes, na sala de cerimónias de Luís XIV. A França, desarmada, estava aos seus pés; Paris rebelde, na qual mesmo ele não ousara tocar, fora provocada por Thiers para a insurreição da Comuna e fora deitada por terra, depois, pelos soldados do exército ex-imperial que regressavam do cativeiro de guerra. O conjunto dos filisteus europeus pasmava com Bismarck, tal como pasmara nos anos cinquenta com Luís Bonaparte, modelo daquele. A Alemanha, com ajuda russa, tinha-se tornado a primeira potência na Europa, e toda a potência da Alemanha estava nas mãos do ditador Bismarck. Tratava-se agora do que ele soubesse começar a fazer com esta potência. Se até então ele tinha executado os planos de unidade da burguesia, se bem que não com os meios da burguesia mas com meios bonapartistas, este tema estava agora quase esgotado, o que importava agora era fazer planos próprios, mostrar que ideias era capaz de produzir a sua própria cabeça. E isso tinha de se tornar manifesto no acabamento interno do novo Império.
A sociedade alemã compõe-se de grandes possuidores fundiários, camponeses, burgueses, pequenos burgueses e operários, que se agrupam por sua vez em três classes principais.
A posse fundiária maior está nas mãos de alguns poucos magnates (nomeadamente na Silésia) e de um grande número de médios proprietários fundiários situados com mais elevada densidade nas províncias prussianas antigas, a leste do Elba. São também estes Junker prussianos que mais ou menos dominam a classe inteira. Eles mesmos são agricultores, na medida em que fazem cultivar os seus bens em grande parte por administradores [Inspektoren] e, ao lado disso, são muito frequentemente possuidores de destilarias de aguardente e de fábricas de açúcar de beterraba. A sua posse fundiária, onde foi esse o caso, está assente na família, como morgadio. Os filhos mais novos entram para o exército ou para o serviço civil do Estado e, assim, desta pequena nobreza fundiária depende uma ainda mais pequena nobreza de oficiais e funcionários que, além disso, ainda recebe incremento pela intensa fabricação de nobres entre oficiais e funcionários superiores, burgueses. No limite inferior de toda esta súcia nobre forma-se, naturalmente, uma numerosa nobreza de parasitas, um lumpenproletariado nobre que vive de dívidas, de jogo duvidoso, de indiscrição, de mendicidade e de espionagem política. O conjunto desta sociedade forma a Junkertum(57*) prussiana e é um dos suportes principais do antigo Estado prussiano. Mas o núcleo possidente fundiário desta Junkertum assenta mesmo sobre uma base frágil. A obrigação de viverem em conformidade com a sua posição torna-se dia a dia mais dispendiosa; o sustento dos filhos mais novos até ao posto de tenente e de assessor, a colocação das filhas em estado de casamento, tudo isso custa dinheiro; e como tudo isso são obrigações diante de cujo cumprimento todas as outras considerações têm de se calar, não admira que os rendimentos não cheguem, que sejam assinadas letras e até feitas hipotecas. Numa palavra, toda a comunidade junker [Junkerschaft] está constantemente à beira do abismo; qualquer desastre, seja guerra, má colheita ou crise comercial, ameaça precipitá-la nele; e assim não é de admirar que desde há uns bons cem anos ela só se tenha salvo da ruína por toda a espécie de ajudas do Estado e que, na realidade, só subsista por ajudas do Estado. Só artificialmente mantida, esta classe está votada à ruína; não há ajudas do Estado que a possam manter em vida por muito tempo. Mas com ela desaparece também o velho Estado prussiano.
O camponês é politicamente um elemento pouco ativo. Enquanto proprietário ele mesmo, arruína-se cada vez mais pelas condições de produção desfavoráveis do camponês de parcelas esbulhado da antiga marca comum [gemeine Mark] ou pastagem comum, sem a qual nenhum gado é possível para ele. Enquanto rendeiro, para ele é ainda pior. A exploração pequeno-camponesa pressupõe preponderantemente a economia natural, na economia monetária afunda-se. Donde: endividamento crescente, expropriação maciça pelos credores hipotecários, refúgio na indústria doméstica, só para não se ser expulso por completo da gleba. Politicamente, o campesinato é a maior parte das vezes indiferente ou reacionário: ultramontano no Reno por ódio antigo à Prússia, particularista ou protestante conservador noutras regiões. O sentimento religioso, nesta classe, serve ainda como expressão de interesses sociais ou políticos.
Da burguesia, já tratámos. Desde 1848, ela foi apanhada num crescimento econômico inaudito. A Alemanha tinha tomado parte crescente na expansão colossal da indústria depois da crise comercial de 1847, [expansão] determinada [bedingt] pelo estabelecimento, ocorrido neste período, de uma linha de navegação a vapor transoceânica, pela enorme expansão dos caminhos-de-ferro e pelas minas de ouro da Califórnia e da Austrália. O que tinha posto em movimento a revolução de Bismarck fora precisamente o ímpeto da burguesia pela eliminação dos entraves comerciais dos pequenos Estados e por igual posição, no mercado mundial, ao lado dos seus concorrentes estrangeiros. Agora que os milhares de milhões franceses inundavam a Alemanha, inaugurava-se para a burguesia um novo período de atividade profissional febril, no qual ela se comprovava pela primeira vez como grande nação industrial através de um craque alemão nacional. Ela já era então a classe economicamente mais poderosa da população; o Estado tinha de obedecer aos seus interesses econômicos; a revolução de 1848 tinha conduzido o Estado à forma constitucional exterior na qual ela podia dominar também politicamente e formar-se [ausbilden] na sua dominação. Contudo, ela ainda estava muito longe da dominação política efetiva. No conflito, ela não tinha sido vitoriosa contra Bismarck; a eliminação do conflito pelo revolucionamento da Alemanha, de cima, tinha-lhe ensinado ainda que o poder executivo, provisoriamente, dependia dela quando muito de maneira muito indireta, que ela não podia destituir nem impor ministros, nem dispor do exército. Assim, frente a um poder executivo enérgico, ela era cobarde e frouxa, mas também os Junker o eram e ela tinha mais desculpa que estes, pela oposição económica direta dela à classe operária Industrial revolucionária. Mas era seguro que ela tinha de aniquilar gradualmente a Junkertum do ponto de vista econômico, que ela era a única de todas as classes possidentes que ainda tinha a perspectiva de um futuro.
A pequena burguesia consistia, em primeiro lugar, de restos do artesanato medieval, que estavam mais maciçamente representados na Alemanha por muito tempo retardatária do que na restante Europa Ocidental; consistia, em segundo lugar, de burgueses arruinados; em terceiro lugar, de elementos da população não possidente que se tinham elevado até ao pequeno comércio. Com a expansão da grande indústria, a existência da pequena burguesia inteira perdeu os últimos restos de estabilidade; mudança de ganha-pão e bancarrota periódica tornaram-se regra. Esta classe antes tão estável, que fora a tropa de elite do filistério alemão, caiu do sossego, domesticação, servilidade, devoção e honorabilidade anteriores em desolada confusão e desgosto com a sorte que lhe foi destinada por Deus. Os restos do artesanato gritavam pelo restabelecimento dos privilégios de corporação; dos outros, uma parte tornou-se brandamente democrática-progressista, outra aproximou-se até da social-democracia e juntou-se diretamente, aqui e além, ao movimento operário.
Finalmente, os operários. Dos operários do campo, pelo menos os do Leste continuavam a viver numa semi-servidão e não tinham atingido a maioridade. Em contrapartida, entre os operários das cidades a social-democracia fizera progressos rápidos e crescia na medida em que a grande indústria proletarizava as massas populares e levava ao extremo a oposição de classe entre capitalistas e operários. Se os operários sociais-democratas ainda estavam cindidos em dois partidos que se combatiam, contudo, desde o aparecimento do Capital de Marx, a oposição de princípio entre ambos a bem dizer desaparecera. O lassallianismo de estrita observância, com a exclusiva reclamação de “cooperativas de produção com ajudas do Estado”, adormecia gradualmente e mostrava-se cada vez mais inapropriado para vir a dar o núcleo de um partido operário bonapartista-socialista de Estado. Aquilo que de mal a este respeito tinham cometido chefes isolados foi reparado pelo bom senso das massas. A unificação das duas orientações sociais-democratas, que só quase por questões de pessoas estava retardada, era segura num futuro próximo. Mas já durante a cisão, e apesar da cisão, o movimento era bastante poderoso para inspirar terror à burguesia industrial e para a paralisar na sua luta contra o governo ainda não dependente dela; de tal modo, pois, a burguesia alemã em geral, desde 1848, mais uma vez não se via livre do espectro vermelho.
Esta articulação das classes estava na base da articulação dos partidos no Parlamento e nas Dietas [Landtagen]. A grande posse fundiária e uma parte do campesinato formavam a massa dos conservadores; a burguesia industrial fornecia a ala direita do liberalismo burguês: os nacionais-liberais; enquanto a ala esquerda — o enfraquecido Partido Democrático ou o chamado Partido do Progresso — era abastecida pelos pequenos burgueses, apoiados tanto numa parte da burguesia como dos operários. Na social-democracia os operários tinham finalmente o seu partido autônomo, ao qual pertenciam também pequenos burgueses.
Um homem na posição de Bismarck e com o passado de Bismarck tinha de dizer para si, com alguma inteligência do estado de coisas, que os Junker, tais como eram, não formavam uma classe capaz de viver, que de todas as classes possidentes só a burguesia podia pretender a um futuro e que, por conseguinte (abstraindo da classe operária, cuja missão histórica não queremos exigir dele que a compreenda), o seu novo Império prometia uma existência tanto mais segura quanto mais ele lhe preparasse, gradualmente, a transição para um Estado burguês moderno. Não lhe exijamos o que, nas circunstâncias, lhe era impossível. Uma tão pronta transição para o governo parlamentar, com o poder decisivo no Parlamento Imperial (como na Câmara Baixa inglesa) não era possível nem mesmo aconselhável momentaneamente; a ditadura de Bismarck em formas parlamentares tinha de aparecer-lhe a ele mesmo como inicialmente ainda necessária; de modo nenhum lhe levamos a mal que ele a tenha mantido inicialmente, perguntamos meramente para que ia ela servir. E aí dificilmente pode haver dúvida de que o encaminhamento para um estado de coisas correspondente ao da Constituição inglesa era a única via em que se dava a perspectiva de assegurar ao novo Império uma base sólida e um desenvolvimento interno tranquilo. Ao abandonar-se a maior parte da comunidade junker, aliás sem salvação, ao declínio iminente, ainda parecia possível organizar, com o resto e com novos elementos, uma classe de grandes possuidores fundiários independentes, que era só a frente ornamental da burguesia; uma classe à qual a burguesia, mesmo no pleno gozo do seu poder, tinha de abandonar a representação estatal e, com isso, os postos mais chorudos e uma influência muito grande. Ao fazerem-se à burguesia as concessões políticas de que ela, com o tempo, não podia aliás ser privada (assim havia que julgar, pelo menos do ponto de vista das classes possidentes) — concessões estas a fazerem-se gradualmente e mesmo em pequenas e raras doses — estava-se pelo menos a dirigir o novo Império no caminho em que ele podia seguir os restantes Estados da Europa Ocidental, politicamente muito mais adiantados que ele; caminho em que ele sacudiria os últimos restos do feudalismo assim como da tradição filisteia que ainda predominava pesadamente na burocracia e em que se tornaria capaz, antes de tudo, de se ter nos próprios pés no dia em que os seus fundadores, nada jovens, deixassem este mundo.
Isto nem sequer era difícil. Nem Junker nem burgueses tinham energia, por medíocre que fosse. Os Junker mostravam-no desde há sessenta anos, em que o Estado fazia por eles o seu melhor, contra a oposição destes D. Quixotes. A burguesia, também tornada dócil através de uma longa história anterior, ainda se ressentia duramente do conflito; desde então, os êxitos de Bismarck quebraram ainda mais a sua força de resistência, e o medo diante do movimento operário, a crescer de maneira ameaçadora, fez o resto. Em tais circunstâncias, não podia ser difícil, ao homem que havia realizado os desejos nacionais da burguesia, manter qualquer andamento por ele preferido na realização dos desejos políticos dela, ao todo já muito modestos. Só tinha que ver claramente a meta.
Do ponto de vista das classes possidentes, isso era a única coisa racional. Do ponto de vista da classe operária, porém, mostra-se certamente que já era tarde demais para o estabelecimento de uma dominação burguesa duradoura. A grande indústria, e com ela burguesia e proletariado, formou-se na Alemanha num tempo em que, quase simultaneamente com a burguesia, o proletariado podia entrar na cena política de maneira autônoma, num tempo em que, por conseguinte, já começa a luta das duas classes antes de a burguesia ter conquistado exclusiva ou preponderantemente o poder político. Mas, se bem que na Alemanha seja tarde demais para uma tranquila e solidamente fundamentada dominação da burguesia, no ano de 1870, contudo, a melhor política no interesse das classes possidentes em geral ainda era a de rumar para esta dominação burguesa. Porque só assim era possível eliminar as sobrevivências maciças do tempo do feudalismo apodrecido, que proliferavam na legislação e na administração; só assim era possível aclimatar gradualmente na Alemanha o conjunto dos resultados da grande Revolução Francesa, numa palavra, cortar a enorme e velha trança de peruca à Alemanha, e dirigi-la consciente e definitivamente pelo caminho do desenvolvimento moderno, adaptar as suas condições políticas às suas condições industriais. Se, finalmente, chegava a luta inevitável entre burguesia e proletariado, ela cumpria-se, assim, pelo menos em circunstâncias normais, em que cada qual podia ver do que se tratava, e não na confusão, obscuridade, encruzilhada de interesses e perplexidade tais como as vimos, em 1848, na Alemanha. Só com a diferença que, desta vez, a perplexidade estará exclusivamente do lado dos possidentes; a classe operária sabe o que quer.
Tal como estavam as coisas em 1871, na Alemanha, um homem como Bismarck era de facto indicado para uma política oscilante entre as diversas classes. E nessa medida, nada há a reprovar--lhe. A questão é só a de que para que meta estava orientada esta política. Se ela marchava fosse com que andamento fosse, mas consciente e resolutamente para a dominação final da burguesia, estava de acordo com o desenvolvimento histórico, tanto quanto em geral o podia estar do ponto de vista das classes possidentes. Se marchava para a manutenção do velho Estado prussiano, para a prussianização gradual da Alemanha, então era reaccionária e estava condenada ao fracasso final. Se marchava para a mera manutenção da dominação de Bismarck, então era bonapartista e tinha de acabar como todo o bonapartismo.
A tarefa seguinte era a Constituição do Império. Como material, apresentavam-se, por um lado, a Constituição da Confederação da Alemanha do Norte, por outro os tratados com os Estados da Alemanha do Sul. Os factores com a ajuda dos quais Bismarck tinha de chamar à vida a Constituição do Império eram, por um lado, as dinastias representadas no Conselho Federal [Bundesrat], por outro o povo representado no Parlamento Imperial. As reivindicações das dinastias eram por um limite na Constituição da Alemanha do Norte e nos tratados. O povo, em contrapartida, tinha direito a que a sua quota-parte no poder político fosse significativamente aumentada. Ele conquistara no campo de batalha a independência para com a ingerência estrangeira e a unificação — tanto quanto podia ser esse o caso; também ele era chamado em primeira linha a decidir para que devia ser utilizada esta independência, como devia esta unificação, no pormenor, ser executada e aproveitada. E mesmo se o povo reconhecia o terreno jurídico existente na Constituição da Alemanha do Norte e nos tratados, isso de modo nenhum impedia, contudo, que ele obtivesse na nova Constituição uma maior quota-parte de poder do que nas de até ao presente. O Parlamento Imperial era o único corpo que representava a nova “unidade” na realidade. Quanto mais peso tinha a voz do Parlamento Imperial, quanto mais livre era a Constituição do Império face às Constituições de país [Landesverfassungen] tanto mais firmemente tinha de se consolidar o novo Império, tanto mais tinham o bávaro, o saxão, o prussiano, de se fundir no alemão.
Isso tinha de ser claro para quem quer que visse mais longe que a ponta do seu nariz. Mas de modo nenhum era a opinião de Bismarck. Pelo contrário, ele utilizou o delírio patriótico propagado depois da guerra para trazer a maioria do Parlamento Imperial a renunciar não só a qualquer extensão mas mesmo a qualquer verificação clara dos direitos do povo, e a limitar-se, depois, a reproduzir simplesmente na Constituição do Império o terreno jurídico existente na Constituição da Alemanha do Norte e nos tratados. Todas as tentativas dos pequenos partidos para darem expressão aos direitos da liberdade do povo foram rejeitadas, mesmo a proposta do Centro católico de inclusão dos artigos constitucionais prussianos que continham as garantias da liberdade de imprensa, de associação e de reunião, assim como da autonomia da Igreja. A Constituição prussiana, cerceada duas e três vezes como estava, permanecia, pois, ainda mais liberal que a Constituição do Império. Os impostos não foram votados anualmente mas de uma vez por todas, “por lei”, de modo que estava excluída a rejeição dos impostos pelo Parlamento Imperial. Era assim aplicada à Alemanha a doutrina prussiana, inconcebível para o mundo constitucional extra-alemão, doutrina segundo a qual a representação do povo só tem o direito de rejeitar no papel as despesas, enquanto o governo mete no saco as receitas em metal sonante. Mas enquanto o Parlamento Imperial é, assim, despojado dos melhores meios do poder e rebaixado à modesta posição da câmara prussiana, quebrada pelas revisões de 1849 e 1850, pela gente de Manteuffel, pelo conflito e por Sadowa, goza o Conselho Federal, no essencial, de todos os plenos poderes que o antigo Parlamento Federal possuía nominalmente e goza deles, na realidade, porque está liberto das grilhetas que paralisavam o Parlamento Federal. O Conselho Federal tem não só uma voz decisiva na legislação, ao lado do Parlamento Imperial, como também é a mais alta instância administrativa — na medida em que promulga as regulamentações das leis do Império — e decide, além disso, “sobre insuficiências que na execução das leis do Império... se manifestam”, isto é, sobre insuficiências que noutros países civilizados só uma nova lei pode remediar (art. 7, al. 3, que é muito semelhante a um caso de conflito jurídico(58*)).
Por conseguinte, Bismarck não procurou os seus apoios principais no Parlamento Imperial, que representava a unidade nacional, mas no Conselho Federal, que representava a fragmentação particularista. Ele não tinha a coragem — ele, que se arvorava em representante do pensamento nacional — de se pôr ou de pôr os seus representantes realmente à frente da nação; a democracia devia servi-lo, mas não ele a ela; em vez de se fiar no povo, fiava-se em caminhos tortuosos atrás dos bastidores, na capacidade de se bandear no Conselho Federal por meios diplomáticos, pão-doce e chicote com uma maioria, ainda que recalcitrante. A pequenês da concepção, a baixeza do ponto de vista, que aqui se manifestam, correspondem inteiramente ao carácter do homem que aprendemos a conhecer até agora. Entretanto, podemos admirar-nos de que os seus grandes êxitos nem ao menos por um instante lhe tenham permitido elevar-se acima de si próprio.
O caso estava, porém, como quer que fosse, em dar um único eixo firme à Constituição do Império, ou seja, o chanceler do Império. O Conselho Federal tinha de obter uma posição que tornasse impossível outro executivo responsável que não o chanceler do Império e excluísse, assim, a eventualidade de ministros do Império, responsáveis. De facto, qualquer tentativa de ordenar a administração do Império, por instituição de um ministério responsável, esbarrou com invencível resistência, como intrusão nos direitos do Conselho Federal. A Constituição, como depressa se descobriu, estava “talhada ao corpo” de Bismarck. Era um passo em frente na via da sua dominação pessoal exclusiva, graças ao balancear dos partidos no Parlamento Imperial, dos Estados particulares no Conselho Federal — um passo em frente na via do bonapartismo.
Quanto ao resto não se pode dizer — abstraindo de concessões isoladas à Baviera e ao Württemberg — que a nova Constituição do Império seja um passo atrás direto. Mas é também o melhor que dela se pode dizer. As necessidades econômicas da burguesia estavam no essencial satisfeitas; diante das suas reivindicações políticas — tanto quanto ainda as fazia — estendia-se o mesmo obstáculo que no tempo do conflito.
Tanto quanto ainda fazia reivindicações políticas. Porque é inegável que estas reivindicações, nas mãos dos nacionais-liberais, estavam reduzidas a uma muito modesta medida e diariamente ainda mais se encolhiam. Os senhores, muito longe de pretenderem que Bismarck lhes concedesse facilidades na cooperação com ele, antes se esforçavam por lhe fazer a vontade onde isso convinha, e muitas vezes também onde não convinha ou não deveria convir. Que Bismarck os desprezasse, ninguém lhe pode levar a mal — mas eram os seus Junker melhores e mais homens num só cabelo?
O domínio seguinte em que a unidade do Império estava por fazer, as finanças [Geldwesen], foi regulado pelas leis de 1873 a 1875 sobre a moeda e a banca. A introdução do padrão-ouro foi um progresso significativo; mas só de maneira hesitante e indecisa foi introduzido e ainda hoje não está de pés inteiramente firmes. O sistema monetário [Geldsystem] adoptado — o terço de táler [Dritteltaler], sob o nome de marco, como unidade, com divisão decimal — foi o proposto por Soetbeer no fim dos anos trinta; a unidade monetária efetiva eram os vinte marcos-ouro. Com uma alteração de valor quase imperceptível, ela podia ser absolutamente equivalente quer ao sovereign(59*) inglês, quer aos vinte e cinco francos-ouro, quer aos cinco dólares-ouro americanos, e ganhar assim uma integração num dos três grandes sistemas de moeda [Munzsystem] do mercado mundial. Preferiu-se criar um sistema de moeda à parte e, assim, dificultar desnecessariamente o comércio e os cálculos das cotações. As leis sobre papel-moeda do Império e sobre bancos limitaram a intrujice com papéis por parte dos pequenos Estados e dos bancos dos pequenos Estados e observaram, tomando em consideração o craque entretanto acontecido, uma certa timidez, como convinha a uma Alemanha ainda inexperiente neste domínio. Também aqui os interesses económicos da burguesia foram, ao todo, adequadamente salvaguardados.
Finalmente, vinha ainda a compatibilização de leis de justiça unificadas. Foi superada a resistência dos Estados médios contra a extensão da competência do Império também ao direito civil material; mas o código civil ainda está em devir, ao passo que a lei penal, o processo penal e civil, o direito comercial, a regulação de falências e a organização judicial estão reguladas de maneira unificada. A eliminação das normas de direito formais e materiais, desencontradas, dos pequenos Estados, já era em si uma necessidade premente do progressivo desenvolvimento burguês, e nesta eliminação reside também o mérito principal das novas leis — muito mais que no seu conteúdo.
O jurista inglês baseia-se numa história do direito que salvou, para além da Idade Média, um bom pedaço da antiga liberdade germânica, que não conhece o Estado policial, sufocado em germe nas duas revoluções do século XVII, e culminou em dois séculos de contínuo desenvolvimento da liberdade burguesa. O jurista francês baseia-se na grande Revolução que — após aniquilamento total do feudalismo e do arbítrio policial absolutista — traduziu as condições econômicas de vida da recém-fundada sociedade moderna na linguagem das normas do direito, no seu código clássico proclamado por Napoleão. Em contrapartida, que é a base histórica dos nossos juristas alemães? Não é outra coisa do que o processo de decomposição secular, passivo, dos restos da Idade Média, impulsionado a maior parte das vezes por golpes do exterior e até hoje ainda inacabado; uma sociedade economicamente atrasada, onde o Junker feudal e o mestre de corporação volteiam como fantasmas e buscairi um novo corpo; uma situação jurídica em que o arbítrio policial — embora desaparecida em 1848 a justiça de gabinete dos príncipes — ainda abre diariamente brecha atrás de brecha. Destas escolas, piores entre as piores, saíram os pais dos novos códigos de leis do Império e o trabalho está em conformidade. Abstraindo do lado puramente jurídico, a liberdade política sai bastante mal destes códigos de leis. Se os tribunais de assessores põem nas mãos da burguesia e da pequena burguesia um meio de cooperarem na opressão da classe operária, o Estado cobre-se, contudo, o mais possível, contra o perigo de uma oposição burguesa renovada, pela limitação dos tribunais de jurados. Os parágrafos políticos do código penal são, com bastante frequência, de uma indeterminação e elasticidade como se fossem talhados pelo tribunal imperial de agora, e este por aqueles. Não é preciso dizer que os novos códigos são um progresso face ao direito comum [Landrecht] prussiano —hoje em dia já nem mesmo Stoecker consegue fazer algo de tão horroroso como esse código [prussiano], mesmo se também ele se fizesse circuncidar. Mas as províncias que até à data tiveram o direito francês até sentem de mais a diferença entre a cópia atamancada e o original clássico. Foi o abandono pelos nacionais-liberais, do seu programa, que tornou possível este reforço da violência do Estado à custa da liberdade civil, este primeiro positivo passo atrás.
É ainda de mencionar a lei de imprensa do Império. O código penal já tinha regulado no essencial o direito material que aqui vem ao caso; o estabelecimento de iguais determinações formais para todo o Império e a eliminação das cauções e selos, ainda subsistentes aqui e além, constituíram, pois, o conteúdo principal desta lei e ao mesmo tempo o único progresso por aí efetuado.
Para que a Prússia se comprovasse outra vez como Estado modelo, foi ali introduzida a chamada auto-administração. Tratava-se de eliminar os restos mais chocantes do feudalismo e todavia, quanto ao fundo, deixando o mais possível tudo como antigamente. Para isso serviu o ordenamento por círculos [Kreisordnung]. O poder(60*) de polícia dos senhores Junker nos seus domínios tornara-se um anacronismo. Quanto ao nome — com privilégio feudal — foi suprimido e, quanto ao fundo, foi restaurado ao criarem-se distritos dominiais [Gutsbezirke] autónomos, no interior dos quais ou o possuidor de domínios [Gutsbesitzer] é ele mesmo regedor dominial [Gutsvorsteher] com as competências de um regedor de comuna rural [ländlicher Gemeindevorsteher] ou então nomeia este regedor dominial; e [foi restaurado], além disso, ao transferir-se o poder de polícia todo e a jurisdição policial de um distrito administrativo para um regedor administrativo [Amtsvorsteher] que, no campo, naturalmente, era quase sem excepção um grande possuidor fundiário e, assim, ficava também com as comunas rurais sob a sua férula. A prerrogativa feudal do [indivíduo] singular foi retirada, mas com isso foram dados à classe inteira os plenos poderes ligados àquela. Por um processo de escamoteamento semelhante, os grandes possuidores fundiários ingleses transformaram-se em juízes de paz e em senhores da administração rural, da polícia e da jurisdição inferior e, assim, asseguraram-se sob título novo, modernizado, da continuação do uso de todos os postos de poder essenciais mas já não conserváveis na forma feudal antiga. Mas esta também é a única semelhança entre a “auto-administração” inglesa e a alemã. Eu gostaria de ver o ministro inglês que se atrevesse a propor no Parlamento a ratificação dos funcionários comunais eleitos e a substituição [deles], em caso de voto renitente, por suplentes impostos pelo Estado; a propor a introdução de funcionários do Estado com as competências dos conselhos regionais, dos governos de distrito e dos primeiros presidentes [Oberpräsidenten] prussianos; a propor a ingerência da administração do Estado, reservada ao ordenamento por círculos, nos assuntos internos das comunas, das circunscrições administrativas e dos círculos; e a propor mesmo o corte, inaudito em países de língua inglesa e de direito inglês, do direito de recurso aos tribunais, tal como se encontra quase a cada página do ordenamento por círculos. E ao passo que, tanto as assembleias de círculos como as assembleias provinciais continuam a ser compostas, à maneira feudal antiga, por representantes dos três estados [Stände]: grandes possuidores fundiários, cidades e comunas rurais — na Inglaterra, mesmo um ministério altamente conservador apresenta um projeto de lei [Bill] que transfere toda a administração dos condados para autoridades eleitas por sufrágio quase universal.
A proposta de ordenamento por círculos para as seis províncias orientais (1871) foi o primeiro sinal de que Bismarck não pensava fazer absorver a Prússia pela Alemanha, mas consolidar mais, pelo contrário, a sólida cidadela do velho prussianismo, precisamente essas seis províncias orientais. Os Junker conservaram, sob nome alterado, todas as posições de poder essenciais; os operários rurais daquelas regiões — criados e jornaleiros — permaneceram os hilotas da Alemanha, na sua servidão efetiva de até àquela data, só admitidos em duas funções públicas: tornarem-se soldados e servir os Junker como gado de votar nas eleições para o Parlamento Imperial. O serviço que Bismarck prestou, por aí, ao partido socialista revolucionário, é indescritível e merece todo o agradecimento.
Mas que dizer da estupidez dos senhores Junker, que estrebuchavam com pés e mãos, como crianças mimadas, contra esse ordenamento por círculos elaborado unicamente no seu interesse, no interesse da mais longa manutenção dos seus privilégios feudais, apenas com nome algo modernizado? A Câmara prussiana dos Senhores [Herrenhaus], ou antes, a Câmara dos Junker, rejeitou primeiro a proposta, que se arrastou por um ano completo, e só a aceitou depois de ter resultado uma fornada de Pares [Pairsschub] de vinte e quatro novos “senhores”. Os Junker prussianos mostravam-se assim, outra vez, como reacionários mesquinhos, teimosos, sem salvação, incapazes de formar o núcleo de um grande partido autónomo com vocação histórica na vida da nação, como fazem, na realidade, os grandes possuidores fundiários ingleses. Tinham afirmado com isso a sua total falta de entendimento; Bismarck só tinha ainda de tornar clara perante todo o mundo a não menos total falta de carácter da parte deles, e um pouco de pressão aplicada com medida transformou-os num partido Bismarck sans phrase(61*).
Para isso devia servir a Kulturkampf.
A execução do plano prusso-alemão do imperador tinha de ter por contragolpe a reunião, num só partido, de todos os elementos antiprussianos que se baseavam em desenvolvimento separado anterior. Estes elementos multicores encontraram no ultramontanismo uma bandeira comum. A rebelião do bom senso humano, mesmo entre inúmeros católicos ortodoxos, contra o novo dogma da infalibilidade papal por um lado, por outro o aniquilamento do Estado da Igreja e o chamado cativeiro do papa em Roma, obrigaram a uma fusão mais estreita de todas as forças militantes do catolicismo. Assim se formou na Dieta prussiana, já durante a guerra — no Outono de 1870 — o Partido do Centro, especificamente católico; ele entrou no primeiro Parlamento Imperial alemão de 1871 só com 57 homens, mas reforçou-se em cada nova eleição até chegar acima de 100. Era composto por elementos muito diversos. Na Prússia, as suas forças principais estavam nos pequenos camponeses renanos, que ainda se consideravam como “prussianos à força”; depois, nos grandes possuidores fundiários e camponeses, católicos, das dioceses vestefalianas de Münster e Paderborn e na Silésia católica. O segundo grande contingente era fornecido pelos católicos da Alemanha do Sul, nomeadamente os bávaros. Mas a força do Centro estava muito menos na religião católica do que no facto de que ele representava as antipatias das massas populares contra o prussianismo específico, que pretendia agora à dominação sobre a Alemanha. Estas antipatias eram particularmente vivas nas regiões católicas; além disso, corriam simpatias para com a Áustria, agora rejeitada para fora da Alemanha. Em uníssono com estas duas correntes populares, o Centro era decididamente particularista e federalista.
Este caráter essencialmente antiprussiano do Centro foi logo reconhecido pelas restantes pequenas fracções do Parlamento Imperial que eram antiprussianas por razões locais — não por razões nacionais e gerais, como os sociais-democratas. Não só os polacos e alsacianos católicos, mas mesmo os guelfos [Welfe] protestantes se juntaram estreitamente, como aliados, ao Centro. E apesar de nunca ter ficado claro para as fracções burguesas-liberais o carácter real dos chamados ultramontanos, elas revelaram contudo um pressentimento do correcto estado de coisas ao terem intitulado o Centro de “sem pátria”, de “inimigo do Império”...(62*)
Escrito por Friedrich Engels entre fins de Dezembro de 1887 e Março de 1888.
NOTAS
(1*) Alexandre I.
(2*) Nicolau I. (Nota da edição portuguesa.)
(3*) As legislações locais (Heimatgesetzgebungen) garantiam o direito do cidadão à residência fixa, bem como o direito de protecção, pela comuna (Gemeinde) de origem, às famílias sem recursos. Ver MEW, Bd. 21, S. 601, n. 371. (Nota da edição portuguesa.)
(4*) Outro nome alemão do florim. (Nota da edição portuguesa.)
(5*) Literalmente: táleres “dois terços novos”. Para as principais características e equivalências das unidades monetárias alemãs referidas no texto, ver MEW, Bd- 21, S. 601-602, n. 372. (Nota da edição portuguesa.)
(6*) Nota de Engels à margem, a lápis: “Weerth”. (Poeta revolucionário e Publicista, Georg Weerth, amigo de Marx e Engels, tinha sido viajante de comércio. — Nota da edição portuguesa.)
(7*) Citações da canção de E. Hinkel, “Jugend-Muth und -Kraft”, Deutsche Volkslieder [“Coragem e força juvenis”, Cantos Populares Alemães], Mainz 1849. (Nota da edição portuguesa.)
(8*) Citações da canção de E. Hinkel, “Jugend-Muth und -Kraft”, Deutsche Volkslieder [“Coragem e força juvenis”, Cantos Populares Alemães], Mainz 1849. (Nota da edição portuguesa.)
(9*) Do Mosa até ao Memel, do Ádige até ao Báltico, Alemanha, Alemanha, acima de tudo, acima de tudo no mundo. Estrofe do Lied der Deutschen (Canto dos Alemães), composto em 1841 por Hoffmann von Fallersleben, preocupado com a desunião alemã. Mais tarde foi abusivamente utilizado como hino chauvinista, na Alemanha. Ver MEW, Bd. 21, S. 602, n. 377. (Nota da edição portuguesa.)
(10*) Engels parafraseia ironicamente o refrão de um poema composto em 1813 Por Ernst Moritz Arndt. Ver MEW, Bd. 21, S 602, n. 378. (Nota da edição Portuguesa.)
(11*) Nota de Engels à margem, a lápis: “Paz de Veste[fália] e paz de Tesch[en].”[N211]
(12*) Nota de Engels no manuscrito entre linhas, a lápis: “Alemanha — Polónia”.
(13*) A guerra da Crimeia foi uma colossal comédia de enganos única, onde se pergunta, a cada nova entrada em cena: quem deve ser aqui ludibriado? Mas a comédia custou tesouros incalculáveis, e largamente um milhão de vidas humanas. Mal tinha começado a luta, a Áustria marchou sobre os principados do Danúbio; os russos retiraram-se perante ela. Por isso, enquanto a Áustria permaneceu neutral, foi impossível uma guerra contra a Turquia nas fronteiras territoriais russas. Mas era de ter a Áustria como aliada nessas fronteiras, pressupondo-se que a guerra seria conduzida seriamente, para a restauração da Polónia e o recuo duradouro das fronteiras russas ocidentais. Então teria sido coagida também a Prússia, por onde a Rússia recebe, ainda agora, todo o seu abastecimento; a Rússia teria sido bloqueada por terra como por mar e teria de sucumbir rapidamente. Mas tal não era a intenção dos aliados. Pelo contrário, ficaram satisfeitos por estar agora afastado todo o perigo de uma guerra séria. Palmerston propôs que se transportasse para a Crimeia o teatro da guerra — o que a Rússia desejava — e Luís-Napoleão aceitou isso mais do que de bom grado. Ali, a guerra só podia permanecer ainda uma guerra de aparência, e assim ficavam satisfeitos todos os protagonistas. Mas ao imperador Nicolau meteu-se-lhe na cabeça conduzir ali uma guerra a sério e esqueceu-se de que o que era um terreno favorável para uma guerra de aparência, era desfavorável para uma guerra a sério. A força da Rússia na defensiva — a extensão enorme do seu território pouco povoado, impraticável e pobre de recursos — vira-se contra a própria Rússia em qualquer guerra ofensiva russa e, mais do que em parte nenhuma, na direcção da Crimeia. As estepes russas do Sul, que teriam de se tornar a sepultura dos agressores, tornaram-se a sepultura dos exércitos russos, que Nicolau, com inconsideração estúpida e brutal, empurrou uns após outros — por último no meio do Inverno — para Sebastopol. E quando a última coluna, reunida à pressa, mal equipada, miseravelmente mantida, perdeu em marcha dois terços do seu efectivo (batalhões inteiros pereceram na tempestade de neve) e o resto já não estava em condições de expulsar do solo russo os inimigos, então o cabeça oca arrogante, Nicolau, abateu-se lastimosamente e ao mesmo tempo envenenou-se. Desde aí, a guerra voltou a ser guerra de aparência e em breve conduziu à conclusão da paz. (Nota de Engels.)
(14*) Engels utiliza aqui a expressão: “Mehrer des Reichs”, do título oficial dos operadores do Sacro Império Romano na Idade Média.
(15*) Literalmente: Fleisch von ihrem Fleisch, Bein von ihrem Bein, isto é, carne da sua carne, osso do seu osso. (Nota da edição portuguesa.)
(16*) Nota de Engels à margem, a lápis: “Orsini”.
(17*) Em francês no texto: como canalha, como gente desprezível. (Nota da edição portuguesa.)
(18*) Em francês no texto. (Nota da edição portuguesa.)
(19*) Em francês no texto: Crédito mobiliário. (Nota da edição portuguesa.)
(20*) Que nessa altura fosse esse o sentimento geral no Reno, disso nos convencemos Marx e eu, bastantes vezes, no próprio local. Industriais da margem esquerda do Reno perguntavam-me, entre outras coisas, como ficaria a sua indústria sob a tarifa alfandegária francesa. (Nota de Engels.)
(21*) Em francês no texto: à, à maneira de. (Nota da edição portuguesa.)
(22*) Guilherme I.
(23*) Em francês no texto. (Nota da edição portuguesa.)
(24*) Beauvau.
(25*) A Rheinische Zeitung[N47] de 1842 discutiu, deste ponto de vista, sobre a questão da hegemonia prussiana. Gervinus dizia-me já, no Verão de 1843, em Ostende: a Prússia tem de se pôr à cabeça da Alemanha; para isso três coisas são necessárias: a Prússia tem de dar uma Constituição, tem de dar liberdade de imprensa e tem de adoptar uma política externa que se veja. (Nota de Engels.)
(26*) Ainda ao tempo da Kulturkampf[N13], fabricantes renanos queixavam-se-me por não poderem promover operários, aliás excelentes, a capatazes, por falta de conhecimentos escolares suficientes. Era particularmente o caso nas regiões católicas. (Nota de Engels.)
(27*) Nota de Engels à margem: “Escolas secundárias para a burguesia.”
(28*) Nunca um homem teve tanto azar/ Como o burgomestre Tschech,/ E que naquele gordo/ Nem a dois passos acertou!
A canção surgiu em 1844. Tschech, burgomestre de Storkow até 1841, tinha disparado, sem êxito, dois tiros contra Frederico-Guilherme IV da Prússia, em 26 de Julho de 1844. Ver MEW, Bd. 21, S. 606, n. 404. (Nota da edição portuguesa.)
(29*) Guilherme I.
(30*) Frederico-Guilherme.
(31*) Literalmente: ritual da cerveja. Antiga praxe estudantil alemã. (Nota edição portuguesa.)
(32*) Alexandre II.
(33*) No original: Haupt- und Staatsaktion. Sobre os dois sentidos principais desta opressão, ver o tomo I da presente edição, p. 235. (Nota da edição portuguesa.)
(34*) Engels escreveu aqui à margem, a lápis: “Partilha — linha do Meno” ver o prexente tomo, p. 451
(35*) Em francês no texto: guerra é guerra. (Nota da edição portuguesa.)
(36*) Engels escreveu aqui à margem, a lápis: “juramento!”.
(37*) O reino do Hannover, o grande-eleitorado de Hessen-Cassel, o ducado de assau e a cidade livre de Frankfurt am Main.
(38*) Utilizando uma imagem de jogo tradicional de feira, Engels pretende dizer que a Prússia visava grandes interesses com pequenos custos. (Nota da edição Portuguesa.)
(39*) Em latim no texto. (Nota da edição portuguesa.)
(40*) August Bebel e Wilhelm Liebknecht.
(41*) Interpelado já antes da guerra austríaca por um ministro de um Estado médio, por causa da sua política alemã demagógica, Bismarck respondeu-lhe que, não obstante todas as frases, poria a Áustria fora da Alemanha e romperia a Confederação. — “E os Estados médios, acredita V. que eles assistirão a isso impassíveis?” — “Vós, Estados médios, não fareis nada.” — “E que será dos alemães?” — “Depois levo-os a Paris e lá faço-os unirem-se.” (Contado em Paris antes da guerra austríaca pelo referido político daquele Estado médio [Mittelstaatsmann] e publicado, durante essa guerra, no Manchester Guardian[N248] pela sua correspondente em Paris, Sr.ª Crawford.) (Nota de Engels.)
(42*) Engels refere aqui os imperadores da dinastia Luxemburgo, que ocuparam o trono do Sacro Império Romano-Germânico, com interrupções, de 1308 a 1437. A dinastia reinou também na Boémia e na Hungria durante uma parte dos séculos XIV E XV. (Nota da edição portuguesa.)
(43*) Guilherme III.
(44*) Foram estes canhões da guarda nacional, não pertencentes ao Estado e por isso mesmo não entregues aos prussianos, que Thiers deu ordem de roubar aos Parisienses em 18 de Março de 1871, e ocasionou assim a insurreição de que saiu a Comuna. (Nota de Engels.)
(45*) Em francês no texto: Campos Elíseos. (Nota da edição portuguesa.)
(46*) Guilherme I.
(47*) Frederico-Guilherme IV.
(48*) Desde aqui até às palavras: “Bismarck atingia a meta” (ver o presente tomo, p. 464) faltam as páginas correspondentes do manuscrito de Engels. O texto respectivo é conforme ao que foi publicado em Die Neue Zeit, N. 25, Bd. 1, 1895-1896, S. 772-776.
(49*) Isto é, o Sacro Império Romano-Germânico. (Nota da edição portuguesa.)
(50*) Em francês no texto: Franco-Condado. (Nota da edição portuguesa.)
(51*) Reprova-se a Luís XIV o ter soltado as suas câmaras de reunião[N261], na paz mais completa, em território alemão que não lhe pertencia. Mesmo a inveja mais malévola não pode repetir tal coisa acerca dos prussianos. Pelo contrário. Depois de terem feito, em 1795, paz separada com a França, em quebra directa da Constituição imperial, e de terem reunido à sua volta os seus pequenos vizinhos, também rebeldes, atrás da primeira linha de demarcação para a primeira Confederação da Alemanha do Norte, utilizaram, para tentativas de anexação na Francónia, a situação aflitiva dos Estados do Império [Reichsstände] da Alemanha do Sul, que prosseguiam agora, sozinhos, a guerra em união com a Áustria. Estabeleceram em Ansbach e Bayreuth (que então eram prussianas) câmaras de reunião segundo o modelo das de Luís [XIV], levantaram uma série de reivindicações de territórios vizinhos, frente às quais os pretextos jurídicos de Luís [XIV] eram luminosamente convincentes; e quando os alemães, batidos, recuaram, e os franceses entraram na Francónia, os salvadores prussianos ocuparam então o território de Nuremberg, incluindo os subúrbios, até à muralha da cidade, e apanharam dos pequenos burgueses [Spiessburger] de Nuremberg, que tremiam de susto, um tratado (2 de Setembro de 1796) pelo qual a cidade se submetia à dominação prussiana — sob a condição de que nunca deviam ser admitidos judeus nos seus muros. Mas logo a seguir o arquiduque Carlos voltou a avançar, bateu os franceses perto de Wurzburg em 3 e 4 de Setembro de 1796 e assim se desfez em fumo essa tentativa de inculcar nos nurembergueses a missão alemã da Prússia. (Nota de Engels.)
(52*) Em francês no texto: Marselhesa. {Nota da edição portuguesa.)
(53*) Aqui no sentido de: sentimentos ou ideias favoráveis a Napoleão Bonaparte, não a Luís Napoleão. (Nota da edição portuguesa.)
(54*) Isto é, na Alsácia e na Lorena. (Nota da edição portuguesa.)
(55*) Trata-se das praças-fortes do Norte da Itália: Verona, Legnago, Mântua e Peschiera.
(56*) Ver a presente edição, t. II, 1983, pp. 212-219. (Nota da edição portuguesa.)
(57*) Latifundiários aristocratas da antiga Prússia Oriental. (Nota da edição portuguesa.)
(58*) Engels cita aqui a Constituição do Império alemão, de 16 de Abril de 1871, publicada na Reichsgesetzblatt 1871 (Folha Oficial do Império, 1871) Berlin, N. 16, S. 68. (Nota da edição portuguesa.)
(59*) Em inglês no texto: soberano, moeda de ouro inglesa. (Nota da edição portuguesa.)
(60*) Dos pontos de vista económico, social e político, o vocábulo Gewalt, aqui utilizado por Engels, supõe: emprego da força, poder exercido e, por conseguinte, violência organizada. Se nem sempre é possível traduzir diretamente aquele vocábulo por “violência”, este sentido, todavia, está pelo menos sempre implícito no presente escrito de Engels. (Nota da edição portuguesa.)
(61*) Em francês no texto. Literalmente: sem frase, isto é, simplesmente. (Nota da edição portuguesa.)
(62*) O manuscrito interrompe-se aqui.




















.png)


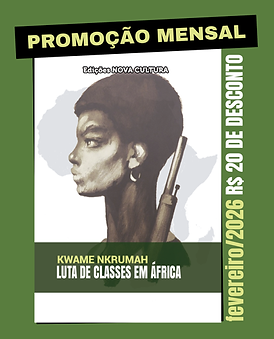






















































































































































Comentários